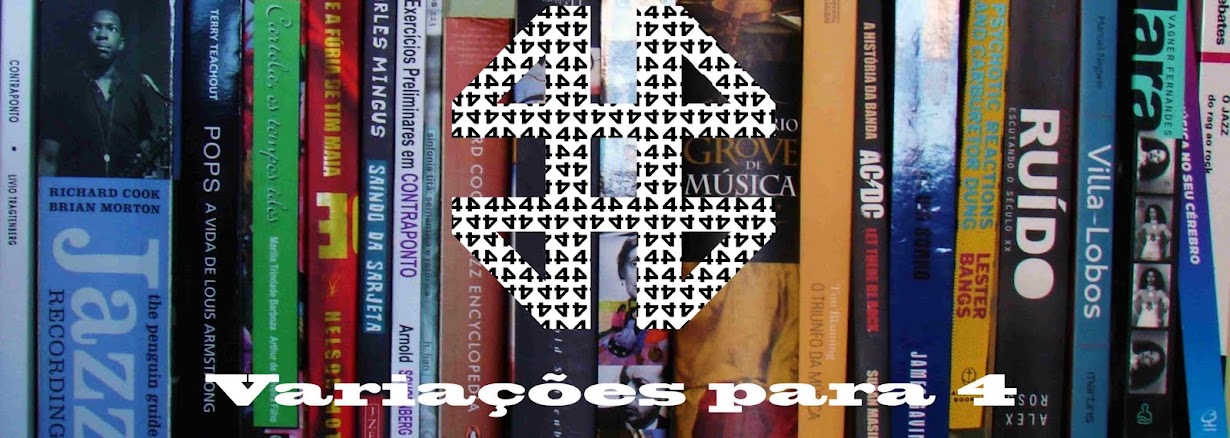Cartaz
soviético sobre igualdade entre os povos e Capa da Edição de
Superman
– Red Son,
lançada nos Estados Unidos.
Na
semana passada,
o Superman completou 80 anos de sua primeira publicação em Action
Comics,
quando iniciava sua jornada até tornar-se figura carimbada nos
mundos da arte. Nas HQs, no cinema, com o memorável Christopher
Reeve (quem nos fez acreditar que “o homem pode voar”), nos ímãs
de geladeira, nas capas dos cadernos escolares, no vestuário
encontrado em lojas de departamento, bem como nas fantasias das
prévias carnavalescas, é certo que o Superman se confunde com a
Indústria Cultural, como diriam os mais intensos dos frankfurtianos.
Em
2003, Tom de Santo afirmou: “Com todo respeito ao Mickey Mouse,
talvez não exista nenhum ícone americano maior do que o Homem de
Aço”. Ainda que o Superman não seja necessariamente o ícone mais
difundido, é de longe um dos símbolos que imprime maior imponência
pela cultura dos Estados Unidos. Mesmo submetido tantas vezes à
vulgarização, capaz de beirar à própria cafonice, convenhamos
que, em sua melhor forma, o Superman é um baita de um produto!
Como
homenagem ao Homem de Aço, chamo atenção para Superman
– Entre a Foice e o Martelo
–, uma das HQs mais importantes já publicadas sobre o super-herói.
Em termos bem diretos, pode-se dizer que é uma história de fácil
aquisição, de fácil leitura e de fácil acesso na internet.
Apresentada
originalmente em 2003 sob o título Superman
– Red Son,
a série causou um verdadeiro frisson
entre
seus fãs. O trabalho escrito pelo roteirista Mark Millar (autor de
outros sucessos como Chrononautas,
e do clássico Guerra
Civil
–, cuja adaptação para o cinema não passa nem pela sombra da
espetacular HQ da Marvel) até hoje figura entre a maioria das listas
envolvendo o Homem de Aço, aliás, aqui, o “Camarada de Aço”,
um oportuno trocadilho utilizado entre a alcunha do Superman e o
apelido de Stálin, que, em russo, também remete ao termo “aço”.
Tem-se
afirmado que, nos dias atuais, muitas polarizações vertem o ódio à
democracia e a supressão do direito ao dissenso e dos meios mais
civilizados de diálogo. Diante dessas questões, eu diria que a
leitura de Superman – Entre a Foice e o Martelo, é um exercício
proveitoso, sobretudo pelas narrativas contidas na HQ servirem de
fértil contribuição ante o perigo das visões mais monolíticas
veiculadas a todo tempo nas redes sociais.
No
seu trabalho em Guerra
Civil,
Mark Millar trouxe com habilidade a discussão entre o público e o
privado, direitos individuais e coletivos, o capital e a intervenção
do governo dos EUA na liberdade dos heróis, a ponto de produzir um
caldo para fóruns e reavivar a pauta clássica da desobediência
civil, no seu sentido mais Henry David Thoreau do termo.
Por
seu turno, em Superman,
Millar traçou mais uma jogada de mestre em uma abordagem no mínimo
“fora da curva”. Comecemos pela questão central que orienta a
série: E se o cometa tivesse caído em uma fazenda coletiva da União
Soviética, em vez de cair na cidade de Smallville, situada no
interior do Kansas? Ora, o Superman seria soviético!
Ao
mesmo tempo, o Superman poderia garantir a estabilidade do Pacto de
Varsóvia em um mundo alinhado com o modelo comunista? A tarefa se
mostra muito complexa ao longo da HQ, haja vista a dissidência dos
Estados Unidos e suas orientações mais liberais, somadas aos
recursos do Governo para garantir a atividade de Lex Luthor, este
aparecendo na história como o grande cientista que procura
mecanismos e artifícios para neutralizar o poderio do Superman.
Além
do surpreendente antagonismo do governo norte-americano, o Superman
precisa lidar com as incoerências que paulatinamente observa dentro
do próprio governo da URSS, ao perceber que o regime não é tão
perfeito quanto pensara. Some-se tudo isso à rebeldia do Batman, na
história surgindo como um contraponto e um insurgente que combate um
conjunto de desmando na Cortina de Ferro e que, se torna algo mais do
que um personagem, entenda-se uma “ideia” que passa a ganhar
asseclas à medida que a história se desenvolve.
O
Superman também precisa lidar com as delicadas relações envolvendo
a Mulher Maravilha, ora marcadas pela afetividade, ora pela inanição
potencial da própria amazona.
Como
diria Lênin: “O Que Fazer?”.
É
aqui onde a história imprime uma de suas maiores lições: é
preciso não apenas interagir, como proteger
a quem nos permite o contraditório. Com essa motivação, o Superman
encontra um novo frescor para suas missões, para agir em prol de
todos e para se livrar da autossuficiência e compreender que as suas
convicções não são superiores às convicções das pessoas que
encarnam o heroísmo cotidiano sob outros pontos de vista.
Certa
vez, John Dewey respondeu a Trótski que o ideal revolucionário peca
por se lançar como um fim último, na medida em que os fins humanos
são imanentes e, portanto, não são absolutos. Diferentemente,
Dewey acreditava que o socialismo e o liberalismo não eram
completamente antípodas, mas que poderiam estabelecer “certo
namoro”, onde um mundo mais solidário e igualitário pudesse ser
reconhecido, tal qual um traço e um próprio desdobramento da
sociedade, acima de tudo, liberal.
Concordemos
ou não com a premissa de Dewey, algo parece minimamente correto: em
um mundo de ódio, como o que se tem visto cada vez mais, colocar
ideias diferentes para um flerte até que cairia bem, em vez de
apenas apartá-las como se estivéssemos em uma Guerra Fria...