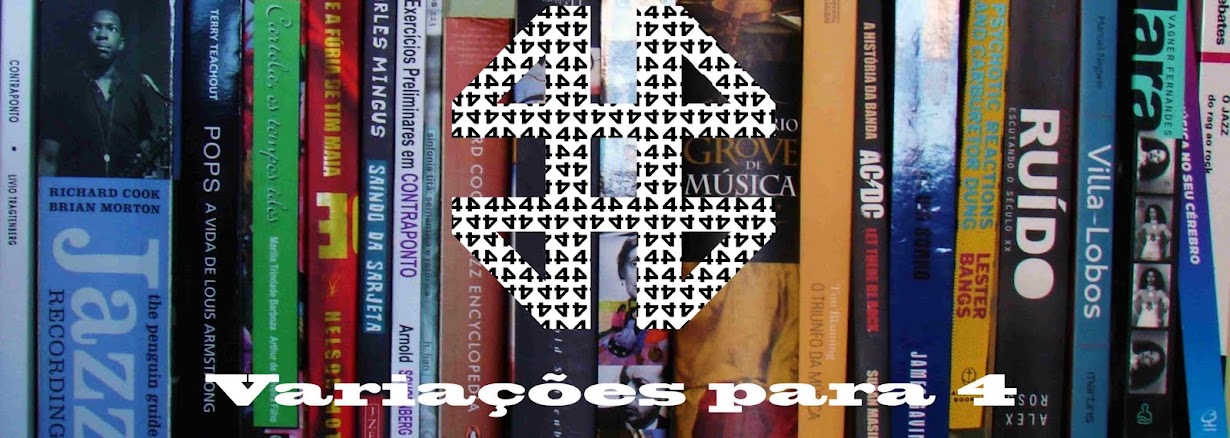Aqui estamos mais uma vez para dar nossa impressão sobre os
indicados a melhor filme do ano de 2015 (veja AQUI o texto do ano
passado),
de acordo com a academia de artes e ciências cinematográficas de
Hollywood. Entre os indicados tivemos gratas surpresas e algumas
produções decepcionantes.
A ordem dos filmes no texto está em
conformidade com os meus favoritos, começando por “A Grande
Aposta”. E você, leitor? Concorda? Discorda? Dê a sua opinião!
A
Grande Aposta
Sem
dúvida alguma o grande filme do Oscar. É inacreditável como Adam
Mackay e Charles Randolph adaptaram o livro The Big Short de
Michael Lewis e deram uma fluidez impensada para um tema espinhoso: a
crise financeira de 2008. Além de um roteiro extremamente bem feito,
o filme conta com uma edição vigorosa que prende a atenção do
espectador a cada nova cena e intercala várias histórias sem perder
o rumo delas. O elenco do filme é simplesmente excelente. É difícil
destacar apenas um. Possivelmente perderá o prêmio de melhor filme
para “O Regresso” (já que a academia gosta dessas histórias
clássicas de vingança e redenção contra as adversidades), mas se
a academia fosse premiar ousadia daria o prêmio para “A Grande
Aposta”. Deve levar o prêmio por roteiro adaptado. Pode levar o
prêmio de montagem (embora nessa categoria, “Mad Max - Estrada da
Fúria” seja favorito).
O
Quarto de Jack
Um dos
filmes mais humanos e comoventes dos últimos anos, “O Quarto de
Jack” conta a história de um garoto de cinco anos e sua mãe que
vivem o cotidiano dentro de um quarto. O que o público não percebe,
de início, é o terror da situação: Jack e sua mãe não vivem ali
por vontade própria, mas por que estão encarcerados, vítimas de um
sequestrador. Jack é, na verdade, filho do sequestrador, já que sua
mãe foi sequestrada há 7 anos. Para que Jack não veja “Old Nick”
(nome pelo qual a mãe de Jack se refere ao sequestrador), ela o
mantém dentro de um armário sempre que seu algoz entra no quarto. A
“realidade” para Jack é o seu quarto e o que é visto na
televisão. O diretor Lenny Abrahamson opta por contar a história do
ponto de vista do menino, o que faz um contraponto muito bom entre a
inocência e o terror que ele não compreende. Tudo bem que esse
recurso não é novo, mas imprime certo lirismo ao filme, que por si
só já aborda um tema pesado. Brie Larson é uma grata revelação
como atriz. É um papel carregado de dramaticidade e ela consegue
imprimir a intensidade certa, sem exageros. É favorita ao Oscar de
melhor atriz merecidamente. Destaque também para o garoto Jacob
Tremblay, que interpreta Jack. Por se tratar de uma produção menor
(leia-se: de baixo custo) não deve levar o Oscar de melhor filme,
mas é uma grata surpresa entre os indicados.
MAD
MAX - Estrada da Fúria
O diretor
George Miller (realizador da trilogia original de Mad Max) parece que
pegou o que o interessava dos filmes anteriores, jogou em um
liquidificador e criou o filme de ação mais interessante dos
últimos anos. É bem verdade que o filme aborda questões como o
fanatismo, a falta de água, a mulher como objeto, mas o que torna
“Mad Max - Estrada da Fúria” um grande filme são as suas
espetaculares sequências de ação. O cenário árido escolhido por
Miller nos dá a ideia de um mundo pós-apocalíptico, em que água,
combustível e armas são itens de primeira necessidade. A trama se
resume basicamente a tentativa da Imperatiz Furiosa (Charlize Theron)
fugir com as cinco esposas de Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne), um
ditador de uma cidadela que fornece água em quantidades escassas à
população e assim os controla e utiliza essas “esposas”
unicamente para que possam gerar herdeiros para ele e assim manter a
sua família no poder através dos anos. Nessa fuga é que entra o
herói Max Rockatansky (Tom Hardy), feito prisioneiro por Immortan
Joe.
Miller
sustenta o seu filme com épicas cenas de ação que vão desde
perseguições quase infinitas a tempestades de areia. O elenco
também está afiadíssimo, com destaque para Hugh Keays-Byrne, como
o vilão Immortan Joe. Um filme de qualidades técnicas
inquestionáveis. É o favorito em algumas categorias técnicas
(montagem, direção de arte e maquiagem). Seria uma surpresa se
ganhasse o Oscar de melhor filme, uma vez que academia dificilmente
premia filmes de ação com a principal estatueta.
Perdido
em Marte
Uma das
grandes surpresas de 2015, “Perdido em Marte” tem uma mistura
brilhante entre humor e ação. A história do astronauta que fica
isolado em Marte após a sua equipe da missão presumir que o
mesmo está morto, é contada com fluidez e muito bom humor através
da trilha sonora, basicamente calcada na disco music, e de um
roteiro inspirado cheio de tiradas bem pensadas. Matt Damon está
excelente no papel do astronauta esquecido. Seria a oportunidade de a
academia reparar a injustiça de nunca ter dado um Oscar para Ridley
Scott, realizador de grandes filmes como Blade Runner, Alien:
O Oitavo Passageiro e Gladiador, mas vão dar o prêmio
pelo segundo ano seguido para Iñárritu . Se Scott ganhar será uma
grande surpresa.
O
Regresso
Uma
história clássica sobre vingança, um protagonista que enfrenta
adversidades físicas/naturais e um vilão de primeira categoria.
Pronto! Você já tem os elementos de um filme feito para, se não
ganhar, pelo menos ser indicado ao Oscar. Obviamente que se trata de
um exagero. Não basta ter apenas esses elementos. São necessárias
atuações inspiradas e uma história que seja, ao menos,
convincente. Além do apuro técnico, claro.
É o caso
desse “O Regresso” do diretor vencedor do Oscar passado (e ao que
tudo indica desse também), Alejandro González Iñárritu. O filme
narra a longa jornada de Hugh Glass, vivido por Leonardo DiCaprio,
em busca de vingança contra seu antigo companheiro de caçada, John
Fitzgerald (Tom Hardy) que além de tê-lo deixado para morrer,
assassina Hawk (Forrest Goodluck), filho de Glass. Tecnicamente o
filme é um primor: dos cenários naturais gelados do Canadá, à
fotografia exuberante de Emmanuel Lubezki, passando pelas
interpretações brilhantes de Leonardo DiCaprio e Tom Hardy. O
ponto alto do filme é sem dúvida nenhuma o ataque de urso sofrido
por Glass. Impecável!
O grande
problema do filme reside no roteiro e na montagem. O filme é
demasiadamente longo (diversas situações poderiam ser cortadas sem
atrapalhar a compreensão da trama) e a edição torna o filme
monótono por algumas vezes. Isso para não falar no “salto”
proporcionado na história: Glass, completamente destroçado pelo
ataque de urso e só conseguindo rastejar, consegue avistar do alto
de um penhasco um rio. Na cena seguinte lá está ele bebendo da água
do rio. Esse recurso de edição, e por vezes até mesmo de roteiro,
não é novidade. Hitchcock até tinha um nome para isso: Mcguffin.
Isso não torna o filme menor, mas deixa o espectador desconfiado.
Além disso, a facilidade com que a índia foge do acampamento dos
franceses é no mínimo questionável.
Trata-se
de um ótimo filme, mas longe de ser a obra-prima que estão pintando
dele. De acordo com as previsões deve levar os prêmios de filme,
diretor, ator (Se bem que é bom Leonardo DiCaprio se benzer. Se
perdeu o Oscar pelo papel em O Lobo de Wall Street é bom
colocar as barbas de molho) e fotografia.
Ponte
dos Espiões
Mais uma
vez, Spielberg usa um tema interessante (os espiões russos e
americanos no cenário da guerra fria) para exaltar os valores
americanos de uma verdadeira democracia. Tom Hanks é um advogado
especialista em seguros que, por força das circunstâncias, deve
defender um espião russo da acusação de espionagem e por
consequência da pena capital. Por defender um “inimigo público”,
Hanks ganha antipatia de toda a sociedade, mas graças aos ideais
pregados pela constituição americana, ele nunca se desvia do
caminho, mesmo quando sua casa é metralhada no meio da noite.
Spielberg, numa tentativa de fazer um filme no estilo Frank Capra,
com um personagem idealista, firme nas suas propostas joga fora a
chance de fazer uma thriller de espionagem ao menos interessante para
mais uma vez encher a tela de patriotada americana de como os Estados
Unidos são justos e humanos. Além de uma edição e direção de
arte brilhantes, salva o filme ainda a atuação Mark Rylance (como o
espião russo Rudolf Abel). Dificilmente levará algum prêmio.
Spotlight -
Segredos Revelados
O tema é
explosivo: a investigação feita pelo jornal Boston Globe que
revelou uma série de abusos praticados por padres católicos. O
filme segue a linha de jornalismo investigativo que tem entre seus
maiores expoentes Todos Os Homens do Presidente de Alan
J. Pakula. Mas diferente do filme de Pakula, em que a cada nova pista
o mistério vai se elucidando, neste Spotlight já sabemos desde
início sobre o que trata a investigação. O filme termina se
limitando a buscar testemunhas que se disponham a depor contra a uma
instituição poderosíssima, de forma que o filme parece rodar em
círculos e não entrega nada de surpreendente ao espectador. A
grande tensão gerada pelo filme é saber se a reportagem deve ser
adiada para que mais padres sejam denunciados ou publicá-la logo e
evitar que concorrentes publiquem primeiro, mas com menos agressores
denunciados. Mais um exemplo de filme que foi indicado só pra fazer
quantidade. Grandes atuações do elenco (a exemplo de “A Grande
Aposta”), com destaque para o surpreendente Michael Keaton, que
depois de uma carreira errática parece ter se revelado um ótimo
ator. Não deve receber prêmios.
Brooklyn
Desde
2010, quando a academia decidiu que poderiam ser indicados até 10
filmes ao Oscar de melhor filme, sempre acontece de a lista conter
indicados que não se sabe por que estão na lista. São exemplos
claros disso nos últimos anos Sniper Americano, Filomena
e Cavalo de Guerra. Na edição desse ano, este papel coube a
“Brooklyn”.
É
realmente incompreensível como esse filme foi indicado ao prêmio
principal e a mais dois prêmios. Tão inacreditável quanto isso é
que o roteiro tenha sido escrito por Nick Hornby (ele mesmo, autor de
Alta Fidelidade e O Grande Garoto). O filme é uma
daquelas histórias de amor que você provavelmente já viu infinitas
vezes. A trama é simples: fugindo da falta de perspectiva na
Irlanda, jovem garota (Saoirse Ronan) vai para os EUA em busca de uma
vida promissora. Chegando lá, tudo corre bem, ela se apaixona e tudo
anda às mil maravilhas. Por conta de um imprevisto, ela decide
retornar para a Irlanda e termina se envolvendo com outro rapaz. O
grande dilema da personagem é ficar em sua terra natal e começar de
novo ou voltar para os EUA onde já tem uma vida encaminhada (muito
novo isso, né?).
Esse é
uma daqueles filmes que em alguns anos será apenas uma nota de
rodapé em livros sobre cinema, apenas por ter recebido essa
indicação à melhor produção do ano. Se esse filme receber algum
prêmio será a prova de que os votantes da academia perderam
completamente o bom senso.