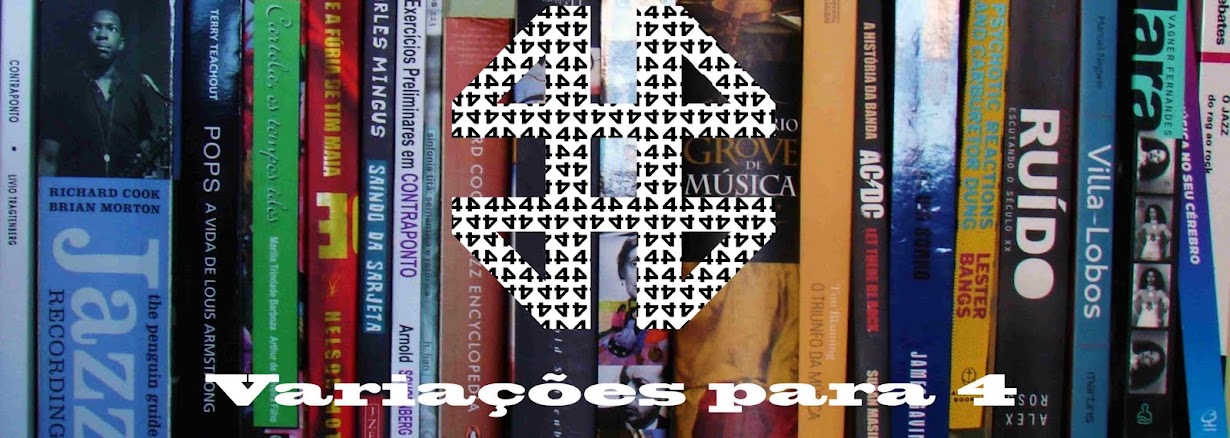No ar, a coluna “Playlist de Editores”
deste mês de março! Em pauta, de livros a filmes, passando por discos, as
indicações de cada editor sobre últimos títulos do universo da cultura a que se
dedicaram.
Boa leitura!
- André Maranhão:
Minha indicação vai para um pequeno
livro de Caetano Veloso, intitulado “Antropofagia”, e publicado pela coleção
Grande Ideias. Fruto de uma conexão entre as editoras Penguin e Companhia das
Letras, o ensaio de Caetano se divide em quatro seções: A Poesia Concreta;
Chico [Buarque]; Vanguarda; Antropofagia; com passagens que apontam diversas
influências na trajetória de Veloso, e que vão tanto nas figuras da Rádio
Nacional, da Bossa Nova (na qual Caetano se declara um grande fã de João
Gilberto e discorre muitos trechos dedicados a ele); quanto na turma do
Iê-iê-iê (Roberto e Erasmo Carlos); e do Rock n’ Roll (Beatles, Rolling
Stones).
Mas outro ponto que também chama
atenção é a costura feita por Caetano a partir de grandes trabalhos da vanguarda
brasileira – seja nos desdobramentos na Semana de Arte Moderna de 1922; no
Concretismo, com os irmãos Haroldo, Augusto (e o “irmão por afinidade” Décio
Pignatari); nos teatros do Grupo Opinião e de José Celso Martinez; no cinema de
Glauber Rocha e, sobretudo, no grande impacto de Oswald de Andrade como fonte
de inspiração, que daria de alguma forma, no Tropicalismo trabalhado por
Caetano, que por sua vez, um dia chegou a declarar: “a tropicália é uma
neoantropofagia”!
- Fernando Lucchesi:
Falar sobre “Tubarão” é chover no
molhado. Foi o filme que inaugurou a era dos blockbusters (literalmente o “arrasa-quarteirão”) em Hollywood,
injetando dólares e mais dólares na indústria cinematográfica, além de alçar ao
estrelato o jovem diretor Steven Spielberg. Nessa edição de 40º aniversário de
lançamento, há dois documentários excepcionais: The Making of Jaws que trata sobre as complicadas filmagens do
longa (nesta edição, na íntegra, ao contrário da edição em DVD que mutilou mais
de uma hora do original) e The Shark is
Still Working - The Impact and Legacy of Jaws, que como o próprio subtítulo
explica, avalia por meio de entrevistas de fãs e de pessoas envolvidas no
projeto, o legado e o impacto causado pelo filme, principalmente na cultura
pop. Além desses documentários, o Blu-ray apresenta uma versão restaurada do
filme, diferentes trailers de cinema e spots
para televisão. Indicadíssimo para fãs do filme ou simplesmente para aqueles
que querem ver apenas um grande filme de suspense/aventura.
- Rógeres Bessoni:
- Bruno Vitorino:
Em 1995, enquanto o Sepultura - a maior banda do rock brasileiro! - pré-produzia seu clássico Roots, o Pantera trabalhava seu mediano Far Beyond Driven e o Korn choramingava problemas de relacionamento familiar e retratava toda uma geração de adolescentes com sérios problemas de autoconfiança viciados em MTV; uma banda lá dos confins da Suécia quebrava todos os paradigmas até então estabelecidos para o Metal: era o Meshuggah.
Com seu disco “Destroy, Erase, Improve”,
o quinteto de Umea sacudiu o universo metaleiro. Musicalmente: agressividade,
precisão, graves, e, sobretudo, padrões polimétricos bastante complexos. Melodia?
Raramente, e só para criar ainda mais tensão rítmica. Poeticamente: letras
afiadas sobre uma utopia pós-apocalíptica, tecnológica e desumanizada que
mesclava indústria de massa, cybertech, relações de poder e desorientação
ontológica. O “horror” descrito por Conrad em O Coração das Trevas, só que com uma hashtag na frente. O resultado era uma implacável sequência de
porradas ritmicas que denunciava aos berros o apagamento do indivíduo idealizado
pelo Iluminismo em prol do andróide sem alma criado do consumo frenético e pelo
incipiente ideário eletrônico que se desenhava (e cujo resultado hoje
vivenciamos). Uma paisagem sonora desnorteante e por vezes irrespirável, mas
absolutamente fascinante.
Destaque para a insanidade de Future Breed Machine, o forte conflito
métrico de Beneath, as inesperadas
modulações rítmicas de Soul Burn, os
constantes deslocamentos de acentuação rítmica em Transfixion e a tessitura métrica de Sublevels. E antes que me esqueça: dê-se ao trabalho um olhar mais
atento às letras do baterista e virtuose Tomas Haake. Valerá o esforço, vá por
mim.
Altamente recomendado!
- Giba Carvalho:
Luiz Melodia é um artista único. Após 13 anos, o “Negro Gato” nos presenteia com um excepcional álbum de inéditas. “Zerima” é uma simbiose perfeita de ritmos e influências. Certamente por dois motivos inerentes a sua carreira. O primeiro é o respeito ao tempo e aos sentimentos musicais na hora de compor. E o segundo, é por ele não forçar a barra para que tais inovações surjam. O processo com Melodia é totalmente espontâneo. E, em minha opinião, é daí que o verdadeiramente novo surge. A demora é totalmente justificada pelo compromisso com a qualidade e com o que é de fato faz-se relevante para a música nacional.
A reaproximação de Melodia com suas
origens do samba, torna-se cada vez mais clara. Notadamente após o estupendo Acústico MTV (o melhor de todos que
foram produzidos no Brasil), estas mudanças voltaram com tudo. Como se o lado
neotropicalista tivesse ficado no passado e o minimalismo oriundo das cordas e
instrumentos percussivos voltassem a bater no coração do Melodia. Tal mudança
nos proporciona com clareza, uma percepção prática e estética de quão magnífico
é o Luiz, muito embora, ele sempre tenha corrido à margem no rótulo de
sambista.
No álbum, encontramos ainda
participações especiais. Na dissonante (em termos de arranjo) releitura de Maracangalha (Dorival Caymmi), temos a
participação de Mahal Reis (filho de Melodia) que introduziu um trecho rap no
balanço que toma conta da canção. E, na maravilhosa Dor de Carnaval, a participação é de Céu. A junção da versatilidade
ímpar de Melodia com o modo único da cantora-compositora paulista cantar tornam
esta canção uma das “maravilhas contemporâneas” do trabalho. O restante é uma
verdadeira AULA de bom gosto e de um excepcional crooner brasileiro.
“Zerima” nos traz um Melodia disposto,
cheio de inspiração e com muita vontade de fazer música de verdade!
COMPLETAMENTE
INDISPENSÁVEL!