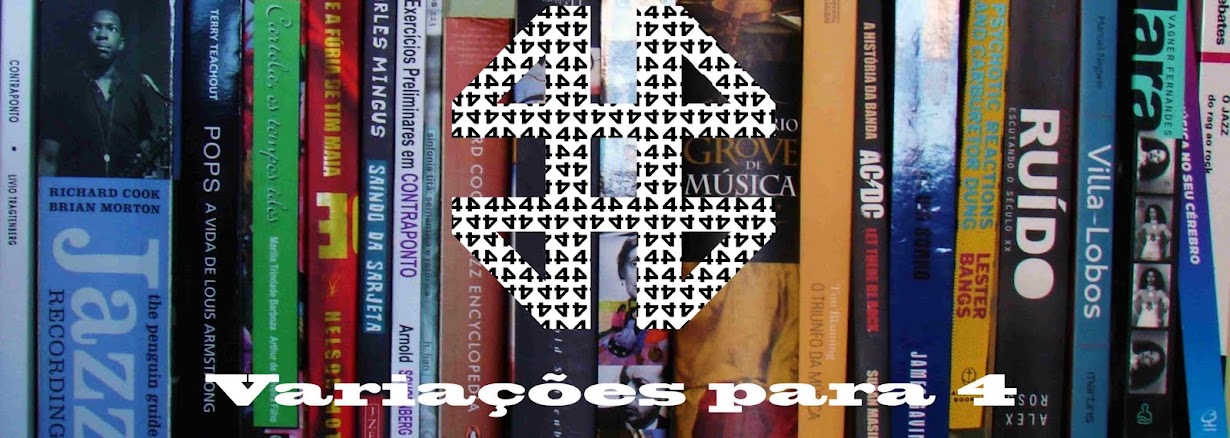A coluna “Variações em 5/4” está de
volta e para esta primeira edição do ano, os nossos editores comentam “New”, o
mais novo disco de Paul McCartney.
- Fernando Lucchesi:
Depois
de um disco de standards do Jazz que
marcaram sua vida, Paul McCartney resolveu que agora seria vez de algo mais
contemporâneo e escalou para produzir o seu novo álbum, “New”, diversos
produtores novos, entre eles Mark Ronson, produtor do aclamado “Back to Black”,
de Amy Winehouse e Giles Martin, filho do produtor de 90% da discografia dos
Beatles, George Martin. Esse amálgama de influências resultou em um disco com
faixas bastante diferentes entre si, unidas unicamente pela habilidade de
McCartney em conceber músicas melodiosas e baladas no violão. “Save Us”, faixa
de abertura, poderia estar tranquilamente em um disco dos Strokes, tamanha a
semelhança. “New”, faixa-título do álbum, traz reminiscências de “Got to Get to
Into My Life”, mas ao invés dos potentes arranjos de metais, entram
sintetizadores e guitarras ao lado de uma melodia daquelas que você pode passar
o dia assobiando. “On May Way to Work”, “Early Days” e “ Hosanna” resgatam o
Paul de baladas das épocas de Beatles e Wings. Apesar da diversidade de
produtores a temática das letras é a mesma de sempre: amores novos ou passados,
estes recheados de nostalgia. Não tenhamos ilusões: Paul McCartney não
produzirá sua obra-prima agora, mas obteve um ótimo resultado ao fincar um pé
no passado e outro, no presente.
- Giba Carvalho:
A moda está fora de
moda.
É
citando uma das frases do excelente disco do Ronnie Von (1968), que inicio
minhas palavras sobre “New”, novo álbum de inéditas de Paul McCartney.
Confesso não procurar opiniões alheias para basear meus textos, no entanto, a
minha sensação ao escutar o disco pela primeira vez, foi de tanta
incredulidade, que fui ver o que haviam escrito. Não demorou muito e encontrei
o de sempre. Tentativas viajadas e comparações aos trabalhos que Paul McCartney
fez nos Beatles. Afirmo – o disco não tem nada de Beatles, além do próprio
Paul. Tá, tudo bem! O cara é uma sumidade do mundo musical e qualquer produtor
gostaria de produzir um disco do ex-Beatle, mas, quatro produtores é demais!
Participaram do disco – Mark Ronson (produtor do excelente “Back to Black” –
Amy Winehouse), Paul Epworth (nome de muito destaque na atual cena inglesa.
Produtor do Bloc Party e da fantasiosa crepuscular, Florence and The Machine.
Tem como trabalho mais elogiado o álbum – “21” de Adele), Ethan Johns (produtor
da banda que nunca decola – Kings of Leon e de Joe Cocker) e, finalmente, por
Giles Martin (filho do lendário George Martin).
Não
sei ao certo a real intenção do velho McCartney ao trazer tantas mentes
diferentes para a produção do seu novo álbum. Podemos questionar que foi uma
jogada para chocar o ramo com tamanha miscelânea? Podemos! E foi
justamente este mistério, que ainda fez com que ouvisse o trabalho novamente.
McCartney, como em diversas outras vezes, fugiu do “feijão e arroz” habitual e
se aventurou por novas terras. Para um cara como ele e com a identidade musical
criada com os Beatles é meio que um tiro no pé. Não sou fã dos trabalhos
pós-Beatles. Gosto apenas de dois discos e uma ou outra música pontual. E, é
com a maior tranquilidade possível, que afirmo que “New”, parece mais uma
“forçada de barra” do que um disco com tantas novidades assim. Das 12 músicas
do álbum, apenas três chamaram a minha atenção. “Save Us”, que abre o disco e é
uma boa música pop (embora não goste da semelhança com o Strokes), “On My Way To
Work” por ter algo melodicamente interessante e a bela “Early Days”.
Também é totalmente perceptível, que o álbum soa diferente de todos os
trabalhos anteriores de Paul McCartney. Por este lado, enxergo mérito pela
tentativa e, por outro lado, o conformismo habitual que vive a música mundial, notadamente o rock n´roll (com bandas altamente repetitivas). O “disco de
retalhos” montado por ele é um trabalho que vaga numa linha bastante mediana e
que não desperta a atenção do ouvinte, principalmente, por não possuir
identidade.
- Dom
Ângelo:
De
uma coisa não podemos discordar: Paul McCartney tem uma absurda facilidade em
criar melodias que se enquadram dentro do sistema musical temperado. Foi assim
na sua carreira com os Beatles, onde foi dono de algumas das mais belas
melodias da música do século XX e continuará, acredito eu, enquanto o próprio
estiver vivo, com essa proeza genial.
Porém,
sinto que a existência daquele fator cósmico, transcendental e imaterial que
habita as grandes obras de arte, não existe mais na expressão musical do Paul.
Aquela “coisinha” que faz você se arrepiar, no qual os indianos chamam de
“sopro divino”, nele, não existe mais. Pelo menos não lhe manifestou em toda a
sua carreira solo, muito menos no seu novo álbum, o “New”.
Mas
uma coisa é certa: aquela bela habilidade em combinar notas com notas, façanhas
da música europeia, sempre caminhará de mãos dadas com esse gênio maior da
música pop. É de seu ofício. É de seu
propósito. É do seu Dharma. Nisso, o velho Paul é bom e continua colocando todo
mundo pra “balançar” com suas novas composições.
- Bruno Vitorino:
Parece-me que uma das funções mais nobres da figura do
veterano é estabelecimento de laços com a juventude. Se por um lado a
experiência oriunda de seus anos de prática, reflexões e descobertas provoca o
tino dos que começam, por outro suas ideias costumam ser estimuladas pelo
ímpeto desbravador que emana dos mais jovens. E se esse veterano for um mestre,
a História nos diz que esses encontros deixam, não raramente, marcas profundas.
Foi assim quando o renomado Handel acolheu, ainda que brevemente, o impetuoso
Mozart. Foi assim quando o metódico Rimsky-Korsakov tutorou o inquieto
Stravinsky. Foi assim quando Radamés Gnattali abrigou o inseguro Tom Jobim. A
Música mudou. Apontou novos caminhos, desnudou paisagens não vistas, abriu
horizontes incertos.
Paul McCartney certamente figura no panteão dos grandes. Não
há muito que se discutir a respeito. Com sua produção, mais especificamente à
época dos Beatles, ele foi um dos responsáveis por definir o que conhecemos hoje
por música pop em todos os aspectos. Justamente por isso, todo e qualquer
projeto em que se envolva gere expectativa e euforia, ainda mais, quando ele é anunciado
na Grande Mídia como uma fuga da zona de conforto do sucesso e uma busca pelo inédito
numa odisseia musical compartilhada com novos nomes. Assim me chegou “New”, o
último trabalho de Paul. No entanto, o que se propunha ser um interessante
diálogo entre a serenidade clarividente da experiência com o frescor audacioso
da mocidade na busca incansável pelo novo, revela-se um constrangedor exercício
da Síndrome de Peter Pan. É como se McCartney, depois de uma overdose de Arcade Fire, MGMT, Florence
& The Machine e todo esse lixo descerebrado e inútil, virasse um rapaz de
25 anos de nossos dias: iPod em modo random,
redes sociais a todo vapor, sobreposições de estímulos, pluralidade sem objetivo,
tudo e nada, aqui e lugar nenhum. E toda essa confusão do que ser e de como ser
se reflete na música apresentada no álbum: uma colagem pop desordenada, um pastiche gagá de uma juventude automatizada.
O que aproveitar, então, desse disco? Os sublimes momentos
de silêncio entre uma faixa e outra.
- André Maranhão: