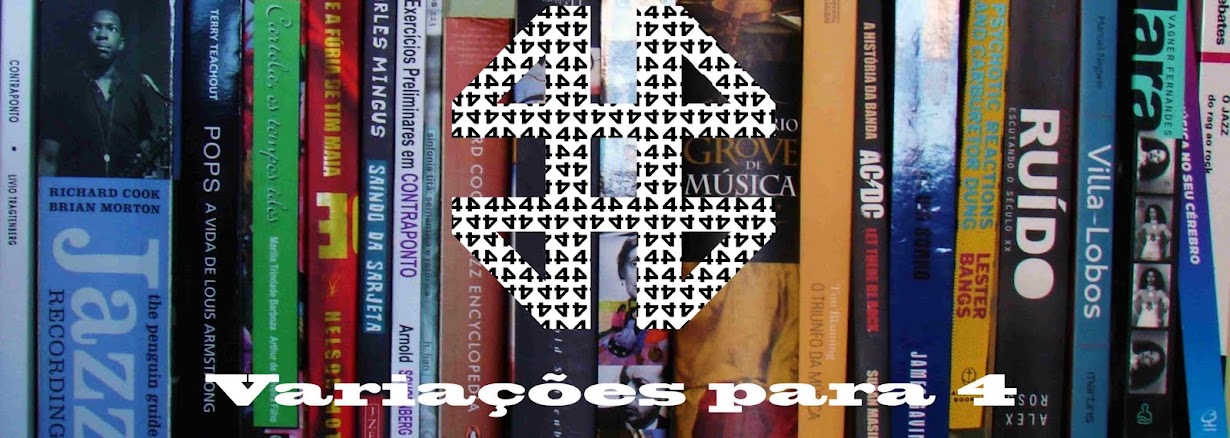Diante de um mundo que fracassou, o homem de nosso tempo tem de
fazer uma escolha: ou a angústia ou a abjeção.
Nelson
Rodrigues (I)
Demorou, mas finalmente fui
assistir a
Star Wars: Os
Últimos Jedi. Sinceramente, não
sei impelido por quais forças ocultas me sujeitei a essa
experiência, no mínimo, ultrajante para qualquer amante da trilogia
clássica de George Lucas. Talvez, por uma espécie de dever moral,
já que de peito aberto, embora desconfiado,
submeti-me voluntariamente ao desastre intitulado O Despertar da Força;
daí que agora eu
deveria continuar o que havia começado e me expor ao suplício dessa
nova trilogia até seu fim. Ou talvez, por ter lido em um bocado de
veículos da Grande Mídia que se tratava de um filme magistral, uma
continuação magnífica que não só honrava o universo de
Star
Wars, mas que o renovava por
inteiro. Inclusive, cheguei a ouvir de profundos conhecedores da saga
– e não apenas dos carentes viciados em
likes
encontrados em cada esquina do Facebook, Instagram e Twitter – que
se tratava do melhor de todos os filmes já realizados da série. De
repente, por conta disso tudo, devo ter alimentado alguma ilusão que
acendeu minha curiosidade. Assim, passado o frenesi da estreia e
aproveitando que o novo “filme do momento” é o
reboot
(mais um) de
Jumanji,
dei-me ao luxo de desperdiçar R$ 20,00 e aproximados 150 minutos de
minha modéstia existência.
A
grosso modo, o episódio VIII é uma gororoba cinematográfica
espetaculosa e açucarada como só Hollywood sabe fazer: mistura
constantes referências e citações à trilogia original,
personagens sem carisma e densidade psicológica, heróis
pré-formatados e sem trajetória, vilões sem fundamento ou
propósito, piadinhas sem
graça e todos os lugares-comuns ditados pelo politicamente correto e
o bom mocismo tão em voga hoje. O resultado é uma trama confusa e
maçante em que, novamente, tudo está posto e não há desenrolar
dos fatos:
não se explica quem é Snoke, de onde veio a Primeira Ordem, como a
República ruiu ou como a Aliança Rebelde se organizou. Ou seja,
trata-se de mais um enlatado
Walt Disney Company
de grande apelo comercial e fácil consumo voltado para um espectador
via de regra egocentrado, infantil e imediatista, acostumado às
facilidades sem esforço da internet e
à fruição distraída de produtos
culturais, que procura bens
de significado os quais lhe deem algum sentido, ainda que ilusório e
fugaz. Ele já recebe tudo
prontinho para não ter o trabalho de ligar os pontos do roteiro (ou
até mesmo de assistir aos filmes anteriores) e poder desfrutar
de sua pipoca em paz, sem
pensar muito, de preferência. Ademais, o simples fato de comprar o
ingresso lhe assegura o desejado efeito causado pela febre Os
Últimos Jedi: a sensação de
pertencimento a uma coletividade que se identifica e se reconhece
através do consumo da franquia Star Wars.
Por
isso, o “x” da questão não reside nas qualidades
cinematográficas do blockbuster,
que simplesmente não existem, mas repousa no arcabouço simbólico
que ele compila, empacota e vende e na forma como a película traduz
e representa o imaginário desta geração. De tal sorte, se
cada época tem o Star Wars que
merece, não deixa de ser interessante e bastante irônico que na
mesma proporção de seu retumbante
fracasso enquanto obra Os
Últimos Jedi sirvam como um
vigoroso documento da era culturalmente
esfacelada,
árida e midiática em que
vivemos. Porque, nas
entrelinhas do roteiro
esterilizado de
Rian Johnson, encontram-se
cristalizadas as questões que mobilizam tanto a juventude nascida
nas redes e criada em apartamento quanto os adultos infantilizados
que gralham, sem praticar, as mais nobres intenções humanas.
Da Rey empoderada e já
senhora de si, passando pelo Chewbacca vegano (isto mesmo! A fera de
outrora tem uma crise moral após assar algumas galinhas
intergalácticas) e pela liderança feminina, santa e hegemônica de
Leia na Aliança Rebelde até chegar ao execrável
Líder Supremo branco de
olhos azuis; o filme joga na cara do público do início ao fim todos
os clichês possíveis do politicamente correto. Tudo é
milimetricamente concebido para não ofender, e mais ainda: educar
moralmente com sua edificante mensagem gluten free um
público desprovido de símbolos unificadores e transversais e
averso às contrariedades, mesmo as intelectuais.
Não
à toa, Rey, a empoderada protagonista, é uma heroína sem lastro
heroico, que não é forjada ao longo do tempo por meio de
treinamento, ascese e/ou sacrifício, como sempre o foram os personagens
heroicos no continuum
da História,
de Ulisses a Frodo (ou Merida, se preferir). Rey não. Ela já nasce
pronta e não precisa fazer qualquer esforço para dominar a Força,
que se manifesta nela como um evento puramente fisiológico que
simplesmente se desenvolve e cresce. E aqui nos deparamos com uma
inflexão importante na saga: se na trilogia clássica a Força era
uma poderosa energia externa ao herói alcançada após um duro e
tortuoso caminho, agora ela se transfigura num “dom” comodamente
adormecido nas entranhas dos personagens que desperta
convenientemente do nada. Para que fazer esforço, afinal?
Não
sem razão também, Luke Skywalker, representante da Tradição e do
Passado, é apresentado no filme como um velho amargurado,
atormentado e ranzinza, autoexilado nos confins da galáxia, que
nega qualquer possibilidade de ligação afetiva ou professoral com
Rey, a epítome da nova geração. Para que ele mude de ideia, é
preciso apelar a um sentimento tão caro aos idosos, o saudosismo;
que é devidamente providenciado por Chewbacca, personagem da série
original, ao mostrar um holograma vintage (e
clássico) de Leia
pedindo ajuda. Mais à frente no desenrolar do arco, é
emblemática a cena no esboço de treinamento em que Luke pergunta a
Rey o que é a Força. “É um poder que os jedis têm de mover as
pedras”, ela responde, o que para mim sintetiza o brutal
desconhecimento histórico dos acontecimentos e o total
estranhamento/desinteresse desta geração por qualquer resquício
estruturador da tradição. E se restou em mim qualquer sinal de
dúvidas quanto a isso (“vai ver, estou exagerando”, cheguei a
pensar), o filme se faz absolutamente claro. É
o próprio Mestre Yoda, alegoria da sapiência no universo Star
Wars, quem destrói a Árvore do
Conhecimento Jedi e os livros sagrados que trazem os textos mais
ancestrais e preciosos da ordem guerreira. Como o livro, suporte por
excelência do conhecimento, objeto historicamente constituído e
responsável por disseminar e preservar as conquistas do pensamento
humano, pode ser deletado num ato de leviandade tão grande, que
deixaria Umberto Eco chocado? “Ah, Luke, são apenas papéis
velhos. Estes livros que você leu a menina Rey já conhece.
Precisamos apagar o passado e construir o futuro a partir do zero”,
diz Yoda, enquanto a pira de livros me remetia aos horrores das
fogueiras de certos regimes totalitários. Deprimente.
E
eu poderia divagar por linhas
e mais linhas a respeito de outros tantos episódios inócuos e
completamente desnecessários – tal qual o filme em si – de
Os
Últimos Jedi: o dilema
adolescente de Rey e Kylo Ren que fazem da Força um verdadeiro
Whatsapp para discutir
seus dramas e sentimentos desprovidos de substância emocional; o
retorno de Leia do hiperespaço à nave-mãe tal como um arcanjo
embalado pela luz miraculosa da Força após um bombardeio da
Primeira Ordem (e ela ainda sobrevive, ok?); o “
workshop
para crianças engajadas de como contestar o sistema capitalista
malvado e opressor”, quando numa trama secundária e clichê os
coadjuvantes Finn e Rose se metem numa aventura em busca de um
“mestre decodificador” que ajude os insurgentes a invadir a nave
do Líder Supremo (
e cujo desfecho é digno do final de Cinderela Baiana); a irracionalidade
masculina e indomável de Poe, o bom selvagem de coração puro; os
pequenos proto-jedi que, no fundo de sua condição social miserável,
pegam as vassouras com o poder da Força (é dessa massa de
desvalidos que sairá a nova ordem jedi que pacificará a galáxia,
segundo Yoda); o “Eu preciso ver
O Despertar da Força,
pô.” que entre aplausos e assovios cheguei a ouvir na ovação do
público ao final do filme… Saí do cinema um tanto atarantado.
Por
isso, diria que Star Wars: Os Últimos Jedi
é um filme profético, pois ele parece antecipar um futuro
tenebroso para a produção cultural regida pela lógica vã do
comércio de bens simbólicos voltados para aquilo que Luiz Felipe
Pondé (tremei, CFCH!) chama de “self consumidor
de significados”(II).
E considerando que a juventude hoje não é mais uma faixa etária, e
sim uma atitude, o mercado potencial para esse tipo de pacotilha é
incomensurável. Foi essa combinação que alçou o filme ao patamar
de 10ª maior bilheteria da história do cinema, arrecadando mais de
$ 1.200.000,00 – e tenho certeza que sequer um centavo dessa renda,
apesar da “nova consciência social” propagada no longa, será
destinado às jovens sequestradas pelo Boko Haram na Nigéria, ou aos
miseráveis do Haiti ou ainda às crianças que mundo afora são
tolhidas da infância pela mesma máquina cruel que o filme
caricatura. Mas, isso não importa, porque o público sai do cinema
com sensação de ter participado de algo bom, nobre, de ter
fortalecido uma corrente do bem, sem perceber ou sequer cogitar o
intricado jogo de contradições e paradoxos por trás desse
lucrativo negócio do conglomerado Disney. Com a camisa de Darth
Vader e o balde de pipocas promocional do filme na mão (que ele
guardará para mostrar aos amigos e alardeará em suas redes
sociais), o espectador sai da sala de projeções já pensando no
fechamento da trilogia e antevendo para si uma certa glória de
shopping center, uma
vez que tudo parecerá harmoniosamente em ordem no universo com o
fechamento por certo apelativo e fácil que o episódio IX
proporcionará.
Diante
disso tudo, falar da destruição cinematográfica completa da saga
original soa quase hediondo, não é mesmo?
(I)
RODRIGUES, Nelson; Teatro Completo – Nelson Rodrigues:
Tragédias Cariocas (Volume 2), Editora Nova Fronteira, 3ª edição,
Rio de Janeiro, 2017, pág. 615. Excerto do texto publicado no
programa da montagem de estreia de “Bonitinha, mas Ordinária”,
em 1962.
(II) PONDÉ, Luiz Felipe; Marketing Existêncial:
A Produção de Bens de Significado no Mundo Contemporâneo; editora
Três Estrelas, São Paulo, pág. 47.