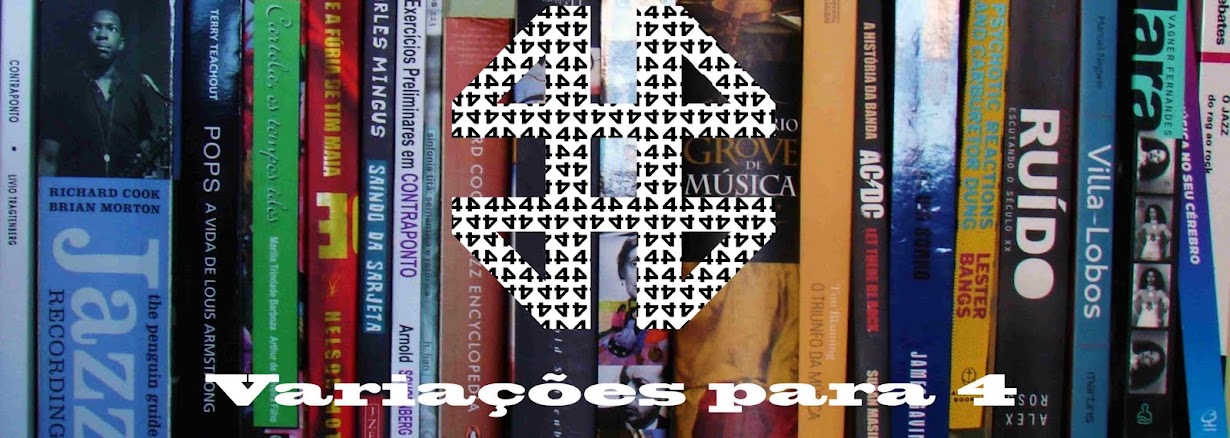Na primeira coluna do ano, os editores
do blog comentam Great Western Valkyrie,
o último trabalho da banda californiana Rival Sons.
Boa leitura!
- Fernando Lucchesi:
O
ano de 2014 trouxe duas grandes surpresas, uma de cada lado do Atlântico.
Primeiro os ingleses do duo The Royal Blood, o qual foi objeto de análise por
mim no blog e em segundo a banda californiana Rival Sons e o seu Great Wester Valkyrie. Ambas possuem uma
gama de referências que têm sua base no Blues, embora não necessariamente
fossem bandas de blues puro, mas que o usavam como mais um ingrediente. Outra
característica comum a ambas é a capacidade de compor músicas pesadas sem esquecer a importância da melodia.
Em
Great Wester Valkyrie, a banda
utiliza como referência musical primeira o Led Zeppelin. Secret remete a How Many More
Times com seu riff hipnótico
conduzido pelo baixo e a voz cheia de efeitos vocais para lembrar o Plant dos
primórdios do Zeppelin. Além de Open My Eyes
ter sua abertura tirada descaradamente de When
the Levee Breaks mais uma vez o vocalista, Jay Buchanan, soa por demais com
Robert Plant. Embora o Led Zeppelin seja a mais notória referência há várias
outras perceptíveis em outras faixas do disco como The Who em Belle Star e até mesmo Suzy Quatro em Play The Fool. O disco se mantém
consistente até a faixa oito. As duas últimas músicas são as quase inevitáveis
baladas que qualquer banda de rock insiste em colocar em seus discos. Ambas, Where I´ve Been e Destination On Course, têm ótimas melodia, no entanto, a banda as
trata como épicos de seis ou mais minutos sem a menor necessidade. Excluindo
esse pequeno deslize, não tenho dúvida em afirmar que o disco é um dos melhores
lançamentos do ano de 2014.
- Giba Carvalho:
Great Western Valkyrie veio para firmar o Rival Sons no
patamar de bandas relevantes da atualidade. Forjado em rock setentista, o
quarto álbum dos californianos é um convite dos mais agradáveis e instigantes
aos fãs do bom e velho rock n´roll. Vocês podem pensar – “Ah, isto soa datado!”
É verdade! Afinal, todos sabemos que existem bandas que apenas copiam um
determinado estilo e outras (cada vez mais raras), que utilizam os mesmos como
base para desenvolver seu trabalho. Com letras contundentes e desempenho seguro
dos músicos envolvidos, o quarteto impressiona exercendo todo seu glossário
“old school”.
Neste
novo álbum, encontramos doses cavalares daquilo que todo apreciador do estilo
gostaria de encontrar: a “cozinha” robusta formada pelas baquetas furiosas de
Mike Miley e as frases de contrabaixo do estreante David Beste. O espetacular
Scott Holiday, guitarrista extremamente impetuoso, de riffs marcantes e solos
lisérgicos. E Jay Buchanan, frontman
que não possui receio de cantar. Um “monstro” da nova geração! No faixa a
faixa, temos:
Eletric
Man - que abre o
disco explodindo com vigor! Um hard-rock clássico em potencial e elegância!
Good
Luck – é a música
onde o RS sai um pouco do rock setentista e viaja a fase antecessora a ele. Com
uma verdadeira aula de canto de Jay Buchanan e ritmo espetacular. Este é um
rock n´roll em sua mais pura concepção.
Secret – lembrando bastante a época áurea do
Deep Purple. Vocais explosivos, rasgados e muitíssimo bem-postados. E uma
performance avassaladora de Mike Miley nas baquetas. Uma pedrada para nossos
ouvidos!
Play
the Fool – esta é
a música do disco onde os instrumentos reinam. A junção entre os riffs
espetaculares de Holiday e a versatilidade Miley são um espetáculo a parte.
Arrisco até afirmar que pode ser considerado um tributo a John Bonham, dada a
quantidade de variações e vigor na execução.
Good
Things – é onde o
estreante da banda mais aparece. David Beste guia a primeira canção não-usual
do álbum, marcando com seu contrabaixo. Neste caminho, ele é ladeado por um
Hammond e pela variedade “infindável” de frases de Holiday e sua Gibson Firebird.
Open
My Eyes – 98% dos
ouvintes dirão: “parece com o Led Zeppelin.” Eu digo – “pode até parecer, mas
parece mais com Audioslave.” Bateria marcada, riff garage pegajoso, vocal sem nenhuma modéstia. Isto já resumiria
bem esta canção, não faltasse um detalhe. É nela que encontramos o melhor solo
do espetacular Scott Holiday.
Rich
and The Poor –
imagine uma pausa para respirar. É exatamente isto que pensei em todas as
audições do disco. Mas, não pense você, que estamos falando de um momento
menor. A banda entra no primeiro momento sombrio do disco. Guitarra pesada,
acompanhada de execução psicodélica de teclado e o restante do conjunto (voz,
baixo e bateria) tecendo frases em cima desta cama.
Belle
Starr – esta foi a canção onde mais identifiquei a “presença”
Zepelliniana. Notadamente, mais parecida com a fase do álbum “Presence”. Inicia
exuberante, acelerada, furiosa e, repentinamente, mergulha nas nuances de um
céu giz. E o ciclo é formado nas idas e vindas desta performance grandiosa da
tríade – bateria, voz e guitarra.
Where
I´ve Been –
senhoras e senhores, estamos falando de um Blues! Consequentemente, a dupla
Holiday e Buchanan volta à supremacia. Primeiro, pelo destaque das linhas de
guitarras presentes em todos os espaços da gravação e, segundo, por todas as
variáveis apresentadas por Jay.
Destination
on Course –
Intensidade! Para finalizar um grande disco, nada mais justo do que uma
execução épica. São 7 minutos de uma composição mais lenta que trás a tona toda
criatividade do quarteto. Além disto, é nesta canção, que encontramos um
trabalho de voz oriundo de um coral feminino, que causa mistério e nos remete
ao canto das “Valquírias” num campo de batalha e presente no nome do disco.
De
acordo com a mitologia nórdica, as “Valquírias” eram belas mulheres loiras que,
montadas nos seus corcéis alados, escolheriam os guerreiros para vida e morte.
Os que fossem escolhidos teriam o direito de entrar em Valhala (a morada de
Odin). E, voltando para o ramo musical, tenho certeza de que elas escolheram o
quarteto estadunidense. Não estou falando de um álbum comum. Estou falando do
melhor disco de rock n´roll de 2014.
Se
você quer ouvir uma banda que possui as melhores referências, que procura
renovar-se, que experimenta e tem tesão em tocar, estás no caminho certo!
- Rógeres Bessoni:
Que
alívio e que injeção de combustível nas veias saber que o rock and roll ainda
reverbera na face da terra! Eu ainda estou agradecidamente sem palavras para o
trabalho do Rival Sons – notadamente, seu álbum mais recente, GREAT WESTERN VALKYRIE, o quarteto da
banda e ao qual se dedica esta coluna. Porque é muito bom ouvir um trabalho
novo trazendo de volta à tona o rock and roll velho e bom. Uma banda surgida
após o ano 2000 que finalmente não soa como uma ressaca do grunge nem uma tentativa
de fazer “hip hop and roll”. Não. Até que emfim, rock and roll visceral novinho
em folha. Já tomei umas cervejas pra comemorar, mas ainda merece outras. Isso
por muitos motivos, mas, sobretudo, por uma coisa fantástica de se ver e de se
passar para as novas gerações, criadas em apartamento, tomando toddynho e
comendo pera com leite: Great Western
Valkyre é uma enciclopédia de rock and roll, meus caros. Um apanhado
fantástico que mostra uma maturidade ímpar em bandas da atualidade. Nada de
sons histéricos de adolescentes quarentões dando “piti” no palco, nada de
melodramas pseudo-engajados, nada de saudosismo estéril, fazendo covers de
músicas já executadas 45 bilhões de vezes no planeta. Nada disso. Os caras
conseguiram encher o matulão com toda a substância do que houve de melhor em 50
anos de rock e CRIARAM a partir disso. O disco é realmente autoral e apresenta
toda essa bagagem em uma característica genial: o trânsito por praticamente
todos os estilos do rock – excetuando o universo do metal. Está tudo lá, do
psicodelismo californiano até o hard rock; do blues pesado ao progressivo. O
som dos caras mostra uma banda realmente adulta, que ouviu muito rock and roll,
assimilou tudo E SOUBE O QUE FAZER com toda essa informação. Em alguns
momentos, há trechos que se aproximam demais de canções conhecidas, mas eu,
particularmente, não vi nenhuma “ameaça” de plágio ou sequer imitação. Ouvi foi
referências sólidas e embasadas, mesmo, em que os caras demonstram que sabem o
que ouviram e sabem o que estão fazendo. Um rápido passeio pelas faixas do
álbum nos leva por esse banquete gordo, e assim começamos, ressaltando os
principais traços, assim como saltaram aos meus ouvidos. Deixo claro que não
pretendo fazer uma radiografia detalhada e “exata” das músicas; vou falar como
se conhecesse a formação musical dos integrantes da banda (coisa que não
conheço), mas apenas como recurso literário pra indicar, numa primeira vista, a
que estilos para os quais as canções me levaram e tudo o que entendi como
material processado e recriado, e aqui vai:
1 – Em Eletric Man temos de cara uma porrada de
levada totalmente zeppeliniana, no melhor estilo Nobody's Fault but Mine” e The
Ocean, com Jay Buchanan soltando o berro com um swing chegado a Robert
Plant, mas também com a pegada feroz de Ian Guilan;
2 - Good Luck nos traz uma introdução e
refrão com o balanço dos Stones, pra descansar e uma linha melódica macia, mais
suave, com textura, pra mim, dos domínios de David Bowie;
3 - Secret, uma das mais fuderosas pra mim,
traz uma mistura perfeita, perfeita, de Canned Heat e The Doors, num blues
psicodélico pesado, com a inesquecível e irresistível levada anos 60, vocais
furiosos, na medida certa entre Bob “The Bear” Hit e Jim Morrison, guitarra e
baixo unidos num riff detonador, à la Roadhouse
Blues e um solo totalmente digno da apresentação do Canned Heat no
Woodstock;
4 - Play the Fool, com um riffs simples que gruda na cabeça, reúne
uma gama de sons típicos do fim dos anos 70 e começo dos 80, se aproximando do
punk em alguns momentos, e, em outros, do pop rock mais juvenil do começo dos
anos 80;
5 - Good Things, outro ponto alto do disco
pra mim, volta à batida da transição dos 60 para os 70, com arranjos de
teclados mais uma vez lembrando The Doors, e os vocais, pontuados com a
guitarra, ficam bem próximos de Alvin Lee e da vibe Ten Years After;
6 - Open My Eyes, começando com uma batida
também zeppeliniana, com Mike Miley trazendo a sonoridade de “When the levee
breaks” à tona, apresenta ainda um riff com todo o traçado de Tom Morello,
fazendo a música explodir no melhor estilo Audioslave;
7 - Rich and the Poor (talvez a minha
preferida), com uma melodia séria, meio down, uma levada firme, vocais com eco
e a guitarra, também com eco nos arranjos (além de suas características
melódicas), nos jogam de volta às referências sessentistas. Mesmo numa voz
masculina, é das veia interpretativa e dos traços melódicos que falo: várias
vezes me pareceu ouvir Grace Slick! Um Jefferson Airplane mais pesado, com as
possibilidades tecnológicas de hoje, mas com a mesma vibe do começo do
psicodelismo californiano. Levei com isso uma porrada, fiquei aturdido e
atônito: é mais que uma joia rara esses sons voltarem a explodir, com todo
vigor, em um trabalho autoral, em pleno ano 2014!
8 – Ainda
no fim dos anos 60, Belle Star não só
continua trazendo elementos do rock psicodélico como, mais uma vez, trouxe
outra grande surpresa. No trecho mais lento, até o Fairport Convention parece
ser lembrado;
9 - Where I've Been, com andamento de blues
e linha melódica mais country, revive momentos do The Eagles e da tradição das
grandes baladas do gênero;
10 – E,
para terminar um grande álbum numa obra vigorosa, apropriadamente um grande
final, os caras, depois disso tudo, entram numa súbita e competentíssima viagem
progressiva! Aqui, Buchanan se supera. Os vocais, num tom cinzento e
melancólico, vão às raias de Peter Hammil, e não apenas. À grandiosidade da interpretação
vocal, se segue a das melodias de guitarra, crescendo com vigor até desaguar
num momento “Echoes”, mostrando direitinho o que Scott Holliday aprendeu com
Gilmour.
E
isso são apenas as minhas primeiras impressões. Caberia uma análise para a performance
de cada integrante, assim como uma viajada pelas letras, mas não é o objetivo e
nem o espaço para tanto. As associações que fiz foram totalmente livres e quero
deixar assim, em aberto, para que cada um faça as suas. Mas fica, sobretudo, a
dica para que curtam esse trabalho raro no mundo rock contemporâneo. Como
falei, numa boa, vou abrir outra cerveja e degustar esse alento.
- Bruno Vitorino:
O rock ‘n roll está em crise. Parece
clichê, não? E, de fato, é! Admito o lugar comum de minha sentença, mas o que é
o rock hoje senão uma mescla de um amontoado de obviedades embaladas pelo
discurso do “novo”, velhas referências musicais datadas e explosões mercadológicas
de efemeridade inútil? Vemos, meus caros, aos montes bandas que se valem dessa
tríade do conformismo estético para se apresentar diante de um público inocente
que ainda acredita no caráter redentor do rock ‘n roll e o enxerga vivo e producente.
Isso para não falar dos “dinossauros” fossilizados pela mesmice que, há muito desprovidos
de suas fontes criativas, circulam o mundo requentando repertório, brindando assim
a humanidade com o tão precioso culto ao espetáculo.
Nesse sentido, parece-me cada vez mais
clara uma espécie de dicotomia patológica que assola o gênero em nosso tempo: por
um lado, deparamo-nos com inúmeras bandas adolescentes que pululam no mainstream com seu rock à High School Music com sua rebeldia de shopping center e letras vazias sobre os
dilemas da adolescência contemporânea – namoricos, redes sociais, carência
afetiva e aquele desejo enorme de chamar a atenção para si; do outro,
encontramo-nos com as incontáveis “viúvas de Woodstock” que tentam emular, do
figurino ao discurso, passando pelo jeito de empunhar os instrumentos, até
finalmente chegar à sonoridade da banda, aquela atmosfera perdida do rock clássico
dos anos 1960/70. Em ambos os casos, o resultado musical é idêntico: o desnecessário.
Contudo (e sei que isso pode me levar a ser mal compreendido), pelo menos com
os adolescentes temos alguma verdade, pois, sem perceber, sua música denuncia a
grande alienação que se apoderou do ideário de uma juventude inteiramente desvinculada
de sua realidade, ou seja, a sua música, verdadeiramente, diz nada sobre lugar
algum. “E isso é bom desde quando?”, vocês se perguntam. Claro que não o é!,
mas é exatamente isso que estamos vivendo agora: o completo esvaziamento das
manifestações humanas de suas dimensões Culturais em prol do modismo transitório.
As bandas juvenis ao estetizarem essa perspectiva, pelo menos, tornam-na um
testemunho inconteste de seu tempo, ainda que sombrio. Já os saudosistas, ao
simplesmente se embrenhar no passado, nada o fazem além de rescender a mofo. E é
justamente nessa segunda categoria que a banda californiana Rival Sons se
enquadra.
Por
essas razões, poderia resumir brevemente Great
Western Valkyrie, último trabalho do quarteto, dessa forma: uma base sonora
formada pela justaposição de Jefferson Airplaine, Ten Years After e The
Yardbirds, que recebe uma estrutura musical inteira e descaradamente copiada do
Led Zeppelin, finalizada com figuras decorativas extraídas de Pink Floyd e,
quem sabe, também do Moody Blues. Electric
Man e, especialmente, Secret, com
seu riff sugado de How Many More Times do Zeppelin, e Open My Eyes, que parece ter nascido do
solfejo de Robert Plant no meio de The
Ocean, são ótimos exemplos dessa miscelânea artificial que, mais do que
reverenciar as tradições do rock e consagrar-se panegírico, expõem o elevado
desgaste do estilo em nossos dias. Os bons momentos do disco ficam por conta de
Play The Fool e sua inesperada mudança
de andamento que dá o clima perfeito para o solo da guitarra e a balada Good Things; justamente, vale ressaltar,
as canções em que a banda não se ocupa tanto em imitar o Zeppelin e reviver o
passado, valendo-se das raízes do rock enquanto ponto de partida e não no fim
em si. Imagino que se a Rival Sons tivesse feito isso ao longo do disco - obviamente levando em consideração também suas qualidades enquanto instrumentistas -, este teria sido bem mais interessante.
De resto, parafraseando Fernando Pessoa, como "estou farto de embusteiros", diria que é um disco para ser ouvido com parcimônia da
lucidez, sem o ouvido deslumbrado e impressionável da carência musical.
- André Maranhão:
Great Western Valkyrie é um bom disco. Não é um álbum
concentrado em um só artista. Toda a banda parece bastante entrosada e nenhum
instrumento monopoliza faixas. Jay Buchanan (vocal); Scott Holiday (guitarra);
Dave Beste (baixo); Michael Miley (bateria) – todos estão bem no mais novo
projeto dos Rival Sons. Logo de cara, a escolha de Electric Man e Good Luck
para abrirem o disco foi muito feliz. Na primeira, há um rock incisivo, com
personalidade; enquanto a segunda é uma balada animada, repleta de drives, solos legais e com um refrão
daqueles que grudam. Play the Fool
traz uma conversão de ritmos entre 1’50’’ e 2’42’’ sensacional. Good Things me remeteu a canções legais
dos anos 1960 com a presença de Ikey Owens frente aos teclados. Em Where I’ve Been, muita coisa boa da
música norte-americana parece estar condensada na faixa: Blues, Rock, Country,
Gospel, Rhythm and Blues... Os teclados reaparecem bem encaixados, dessa vez
através de Mike Webb.
Há outras canções que não chamaram tanto minha atenção: Secret; Open My Eyes; Rich and The Poor; Belle Star e Destination On Course. Os motivos variam: ou pelo vocalista exagerar nos gritos, ou pelas faixas soarem longas, ou simplesmente pelas linhas melódicas e harmonias não me empolgarem. Apesar de estas cinco faixas corresponderem a 50% do disco, ainda assim, insisto em considerar a boa qualidade de Great Western Valkyrie, visto que os outros 50% que me chamaram a atenção compensam por demais!
Há outras canções que não chamaram tanto minha atenção: Secret; Open My Eyes; Rich and The Poor; Belle Star e Destination On Course. Os motivos variam: ou pelo vocalista exagerar nos gritos, ou pelas faixas soarem longas, ou simplesmente pelas linhas melódicas e harmonias não me empolgarem. Apesar de estas cinco faixas corresponderem a 50% do disco, ainda assim, insisto em considerar a boa qualidade de Great Western Valkyrie, visto que os outros 50% que me chamaram a atenção compensam por demais!