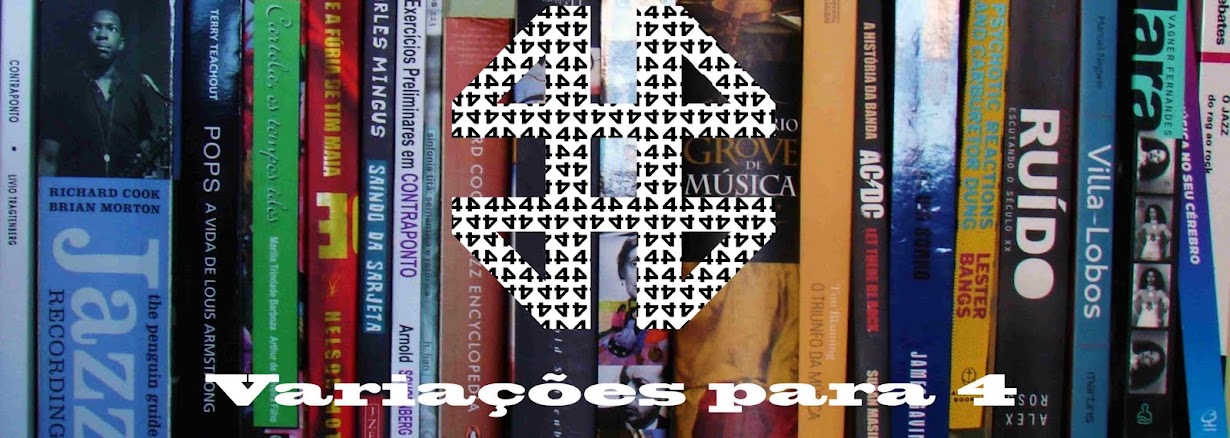|
| Arte de capa de Sonic Highways, novo álbum da banda Foo Fighters. |
A última postagem do ano marca, além do
retorno da coluna Variações em 5/4, a primeira colaboração de nosso novo
integrante, o senhor Rógeres Bessoni. Nesta edição da coluna, os editores do
blog lançam um olhar coletivo sobre Sonic
Highways, o mais recente disco da banda Foo Fighters.
Aproveitando o ensejo, desejamos a todos
os que nos acompanham um 2015 excepcional, repleto de saúde, alegrias e
conquistas, pautado sempre na plenitude humana que dá sentido a essa breve
marcha ante ao desconhecido que chamamos de vida.
Boa leitura!
- Giba Carvalho:
Expectativa.
Sem sombra de dúvidas, esta foi a palavra que mais permeou a minha mente com
relação a Sonic Highways, novo
trabalho do Foo Fighters. E isto é completamente compreensível visto que, ele é
o sucessor de Wasting Light, melhor
disco de rock n´roll da década até o momento.
Grohl
e seus companheiros caíram na estrada num mergulho em busca de influências
históricas para a concepção do novo trabalho. De fato uma ideia
interessantíssima! Aproveitaram a oportunidade e, além do disco, gravaram um
documentário de oito capítulos para o canal HBO, que mostra toda a criação do
novo álbum e as passagens por – Chicago, Washington DC, Nashville, Austin,
Seattle, Los Angeles, Nova Iorque e Nova Orleans. Este é um ponto específico
que pode tornar-se negativo no novo trabalho. Caso as pessoas não venham a
assistir ao documentário, não saberão ao certo sobre a passagem por estes
estados e todo processo de gravação desenvolvido e executado. E tem
explicação. Mesmo flertando com o hard-rock, punk, grunge e algumas pitadas de
progressivo, Sonic Highways soa como
“apenas” mais um trabalho do Foo Fighters. É a velha “armadilha” inerente às
bandas de grande identificação e eficácia com um estilo de fazer sua música.
Ousaram, mas não mudaram a fórmula (talvez não precisem fazer) e isto é uma
faca de dois gumes. Tudo vai depender das expectativas pessoais de cada um.
Para
mim, Sonic Highways é um disco
bom e tem seus pontos fortes na sequência. – Congregation
– que é uma homenagem aos artistas e raízes da música country, embora soe como
o mais tradicional do grupo, What did I Go?
/ God as My Witness – que é a canção
onde percebemos com maior facilidade o ambiente (tão aclamado por Grohl) que
foi gravado e Outside – um grunge
cheio de contratempos e agressividade peculiar. E, mais para frente, encontramos
a excelente In The Clear (melhor
música do disco) – melódica, com refrão consistente e com a presença da
Preservation Hall Jazz Band de Nova Orleans.
No
mais, o Foo Fighters é a mesma banda coerente de sempre.
- Fernando Lucchesi:
Quando
uma banda como o Foo Fighters, lança um algo do nível de Wasting Light, sucesso comercial incontestável e elogiado pela
maioria da crítica, ela chega a uma encruzilhada em relação ao disco seguinte
(acredito já ter falado algo a respeito no blog anteriormente): repetir a fórmula
de sucesso, mesclar algo novo com toques do sucesso anterior ou mudar
radicalmente em relação à “fórmula do sucesso” previamente utilizada e
conhecida.
O
Foo Fighters, ao que parece, optou pela mescla entre coisas novas (entenda-se:
fora da fórmula anterior) e resquícios do bem sucedido disco anterior. O
resultado foi um dos discos mais entediantes do ano. A despeito de o álbum
conter algumas faixas bem interessantes com Something
for Nothing (inicia com um andamento lento para depois explodir nos gritos
insanos de Grohl) e de Congregation (pop/rock
da melhor qualidade, com AQUELE riff pegajoso), a impressão é de que a maior
parte das outras faixas está lá esperando entrar na trilha sonora de um novo
filme da franquia American Pie.
Músicas datadas, com um apelo pop sem nenhuma inspiração e uma sensação de
preguiça inacreditável.
Para
a chatice ficar completa nada mais apropriado do que encerrar o disco com a longa
e chatíssima I Am a River. Um chororô
que dura infindáveis sete minutos, com direito a arranjos de cordas para dar
uma falsa impressão de magnitude da música. Como diria um dos componentes do
blog: esse disco é mais fraco do que choque de lanterna!
- André Maranhão:
O
fato de todas as faixas do álbum Sonic
Highways terem sido gravadas em locações diferentes chamou a minha atenção,
embora confesse não saber até que ponto esta postura dos Foo Fighters seria
fruto de uma exigência técnica em vez de uma jogada de marketing.
Em
se tratando das canções, achei interessante a presença da guitarra barítono de
Rick Nielsen em Something From Nothing
já que tal instrumento não é tão popular no pop rock ou no rock alternativo,
mas tem sido de suma importância em outros gêneros musicais como o surf music, country
e jazz. The Feast and the Famine
segue uma linha mais próxima de um rock de verão, embora não rivalize com uma
canção aos moldes de Breakout –
lançada pelos próprios Foo Fighters ao final dos anos noventa.
A
faixa que eu mais gostei foi Congregation,
pois nela a banda parece perfeitamente entrosada: há uma ótima cobertura de
guitarras-base e o solista Chris Shiflett se coloca muito bem, juntamente com o
baixo de Nate Mendel. Por fim, vale destacar a performance de Taylor Hawkins à
frente da bateria. A segunda melhor faixa sob o meu crivo é I Am a River; uma balada que cresce aos
poucos e fica boa no refrão.
Subterranean, a única canção com a presença
marcante do violão de aço, cairia muito bem numa trilha de 007... What Did I Do, God as My Witness, em
certos momentos me soou longa demais, e só se tornou interessante a partir de
sua metade. Em Outside, a introdução
e as pausas para os solos de guitarra imprimem um tom mais dinâmico, mas nada
em especial. Também não vejo (e ouço) nada de novo em In the Clear.
Eu
li que em algumas páginas anglo-americanas, Sonic
Highways recebeu avaliações em torno de “regular”. Desta vez, me
aproximarei dos conceitos de Metacritic,
The Guardian, Entertainment Weekly, dentre outros, e darei um “C”, para o mais
novo trabalho dos Foo Fighters. Acho que eles já produziram hits melhores...
- Rógeres Bessoni:
É
com todo o respeito que paro para ouvir um novo trabalho de uma banda como o
Foo Fighters, levando em consideração a trajetória de uma das poucas bandas
que, nas últimas duas décadas, têm significativamente ajudado a manter de
alguma forma pulsante o tão maltratado – e, atualmente estéril – rock and roll.
Talvez isso me leve mesmo a aumentar minhas exigências e expectativas quando me
deparo com um trabalho que sei que é sério. Mas o Budismo nos alerta que as
expectativas elevadas acarretam decepções consideráveis, e foi justamente o
caso. Ouvindo o Sonic Highways, só me
convenço mais veementemente de que esse senhor de idade, o rock, precisa
urgentemente passar por uma nova demolição/revolução, como a que os próprios
integrantes do Foo Fighters ajudaram a realizar no começo dos anos 90. No
entanto, de lá para cá, as placas tectônicas do rock têm se mantido numa imobilidade
soporífera. E aqui chegamos ao desapontamento com o Sonic Highways.
Em
primeiro lugar, quero frisar uma coisa: o disco NÃO É RUIM, mas também não
instiga. É bom, sólido, bem tocado, mas só isso. “Só isso”? É. Porque é a repetição de padrões sonoros que
já estão ecoando há mais de 20 anos e, para mim, não acrescentam mais nada.
Neste sentido, o disco ficou morno, alternando entre alguns momentos bons e
outros realmente chatos, sem ter apresentado nenhuma faixa impactante ou
poderosa – com exceção, para mim, de Something
From Nothing, que começa com uma melodia também morna, com uma linha de
guitarra mais que repisada, mas que cresce para uma explosão vigorosa, ficando
realmente muito boa. Uma das músicas que mais me agradaram recentemente e que,
na verdade, me pareceu mais Audioslave que qualquer outra coisa. Tive a
impressão de ouvir Tom Morello no trecho mais pesado. Mas o resto do disco,
infelizmente, não se manteve nesse nível.
Em
vários, vários momentos, tive aquela sensação: “já ouvi isso”. São os mesmos
vocais, indo do “grunhido” ao mais “meloso”, com alguns momentos de explosão na
medida certa. As guitarras fortes, em bases barulhentas, eventualmente com
notas esticadas ou ponteadas com notas soltas, mas sem nenhum riff marcante, de
pegada e, para mim, o que é pior e incompreensível: a continuação de uma escola
de guitarra praticamente sem solos. Da mesma forma, a cozinha, com baixo e
bateria precisos, firmes, não traz nenhuma levada inovadora, nenhuma
quebradeira surpreendente. Talvez por serem sons da saída da minha
adolescência, isso sempre me passa a impressão de que, mesmo com músicos
maduros, a banda se manteve de certa forma adolescente. Estamos falando da
personalidade de uma banda consagrada, eu sei disso. Sei que a manutenção de
algumas estruturas também tem sua importância, principalmente para os cultores
de um estilo, e o Foo Fighters não é de maneira alguma formado por integrantes
amadores ou imaturos. Entretanto, o grande perigo é o criador ficar escravo da
criatura. No caso da concepção musical, arriscado é os autores de um dado nicho
não saberem mais inovar dentro dos padrões que estabeleceram, ou reconhecer que
pode ser a hora de romper com tais padrões, que podem ter sido bons e
necessários parâmetros no começo, mas que depois se converteram, em maior ou
menor escala, em uma zona de conforto - a simples aplicação de uma fórmula, que
não desafia mais nem a banda, nem o público. Sei também que o ponto deste
comentário é o Foo Fighters e não seria tão adequado terminar com comparações explícitas,
e minha intenção não é comparar A com B e decidir sobre que é “melhor”. Não é
nada disso, mas acontece que só reforço cada vez mais uma percepção que já
tenho há alguns anos e venho repetindo: de fato, pouquíssimas bandas
“envelhecem” como o Pearl Jam.
- Bruno Vitorino:
Eu
não gosto do Foo Fighters. Na verdade, nunca gostei. Por mais que tenha tentado
reverter esse quadro em ocasiões passadas, acabava sempre a cada empreitada por
não me identificar com a sonoridade da banda. E, para agravar ainda mais minha
repulsa, irritava-me profundamente as malfadadas tentativas de Dave Grohl e companhia
em serem engraçadinhos, debochados, fingindo-se comediantes em seus clipes – Breakout, Learn to Fly, Long Road to Ruin, Low, The One -,
vinculando, dessa forma, o rock a uma espécie de oligofrenia juvenil coletiva,
que se espalhava com uma virulência gigantesca via MTV, e não mais à urgência
expressiva e ao caráter subversivo com os quais o estilo sempre dialogou.
Assiste a esses vídeos que menciono e me diz nos comentários se estou enganado.
No
quesito “a nova salvação do rock”, devo confessar que prefiro muito mais a
pegada crua do Queens of the Stone Age, suas melodias instigantes, o cuidado na
montagem das estruturas sonoras, a ironia fina de suas letras e, o mais
importante, o fato de sua música trazer sempre algo de inesperado, rico, contrariando
os detratores do gênero que vêm nele apenas uma forma primitiva de articular os
sons, abrindo-lhe, com isso, infinitas possibilidades estéticas – ouve
atentamente A Song for the Dead e
na sequência Mosquito Song; tenho
certeza que pensarás estar ouvindo duas bandas distintas. A razão disso tudo se
deve à consciência criativa de Josh Homme e seu profundo conhecimento do que é
o rock and roll, dos timbres que manipula e dos inesgotáveis recursos que um
estúdio de gravação pode prover a mentes criativas. Qualidades que, por
exemplo, o senhor Dave Grohl não tem; ou se as tem, não desenvolve. “Ah, mas em
Songs for the Deaf, Dave Grohl
participa tocando bateria. Esqueceu, foi?!”, alfineta meu querido leitor. Certamente.
Tens razão. Mas, o êxito de sua participação se deve muito mais ao encaminhamento
dado ao projeto por Homme, e, verdade seja dita, em alguma parte a Nick
Olivieri, do que ao baterista, que não passou de um convidado ilustre. Não
esqueça o senhor que o disco musicalmente mais bem sucedido do Foo Fighters, Wasting Light, carrega escancarada influência
de Josh Homme, como já denuncia as guitarras na introdução da faixa de abertura
Bridge Burning. Também não me parece
fruto do acaso que quando a ideia desse ótimo disco nascera em seu peito, Grohl
estivesse em turnê com o Them Crooked Vultures, ou seja, trabalhando com a
entidade John Paul Jones, mas inteiramente submerso no universo estilístico de
Homme. Não há que se negar os fatos, e os fatos são tudo.
Não
obstante a digressão acima, particularmente guardo solene respeito a Dave Grohl
pelo que fora outrora com o Nirvana, e pela sua integridade enquanto band leader da maior banda de rock de
sua geração – e que só não é a maior do mundo hoje, porque o U2 e os Stones ainda
estão em atividade. Pode-se falar o que quiser dele, mas ao menos ele tenta
novas possibilidades sonoras e não se deixa cooptar pelo doce mel da glória
midiática. Ao contrário, usa-a a seu favor, propondo, em certa medida, um
remodelamento interno dessa estrutura que foca no efêmero das estrelas de
ocasião. Não se pode desprezar, só a título de ilustração, o colossal trabalho
de pesquisa encabeçado pelo músico que originou o disco Sonic Highways e resultou num seriado homônimo, produzido em
parceria com a HBO (que no Brasil está sendo transmitido pelo Canal Bis aos
domingos às 19:30, horário local), no qual Grohl, percorrendo os grandes
centros urbanos de seu país, procurou de uma só vez: redescobrir as raízes da
música popular norte-americana; traçar um mapa da cena underground dos Estados Unidos; buscar as origens do rock; ensinar às novas
gerações um pouco da história da cultura do século XX; e, de lambuja, ainda se
inspirar para um novo trabalho com sua banda. Por isso tudo, escutei o mais
novo trabalho do Foo Fighters cheio de esperança e com muita cerimônia. E o
começo do álbum me pareceu muito promissor. Aquela guitarra de timbres
brilhantes abrindo Something From Nothing,
tocada de modo simples, enfatizando as suas três primeiras cordas (mi, si e
sol), estabelecendo assim a estrutura básica do acorde de mi menor, e delegando
ao movimento cromático descendente do baixo (sou wagneriano, quedas de meio tom me agradam) o sentido harmônico,
deu-me a falsa impressão de que eu iria gostar do disco. Na metade da música,
já estava entediado.
O
grande drama deste trabalho reside justamente na contradição entre o imenso
projeto de pesquisa que o precedeu, o qual estudou diversos matizes sonoros e
culturais, e a contundente monocromia do álbum. Pois, Sonic Highways é carregado de lugares-comuns do rock enfadado: mão
pesada nas guitarras, vocais rasgados e letras adolescentes (ouça What Did I Do). Muita atitude, alguma
pretensão intelectual, e pouco - ou quase nenhum – conteúdo. A impressão que se
tem ao final da audição é que se trata de um disco com apenas uma faixa de pouco
mais de quarenta minutos, não fossem os espaços propositais separando um tema do
outro a nos dizer o contrário. Apenas Subterranean
quebra a mesmice do disco, mudando os timbres das cordas (os violões de corda
de aço fulguram aqui); brincando com a métrica ao intercalar sessões rítmicas em
6/8 a outras em 4/4; trazendo, de início, um singular encadeamento harmônico não
funcional, em estrutura constante (F#m/Am/Em/Gm), costurado por uma bela
linha de fundo, que depois descamba num enigmático lá maior o qual incorpora em
si um bocado de seu modo paralelo, o menor natural – há nesse momento um acorde “Em” tão sublime e
inesperado que confere a essa parte da composição toda sua beleza melancólica. Música
realmente tocante e a tenho escutado repetidamente. Contudo, é o único exemplo
de brilhantismo que existe no trabalho, o que por si só não é capaz de salvar o
disco.
Imagino
que a experiência do “ao vivo” em estádios grandes, com um público eufórico que
urra de delírio até para roadie em
passagem de som, Sonic Highways
funcione. Mas, enquanto disco, soa enfadonho. No entanto, meu caro leitor - e
espero sinceramente que não me ojerizes pelo que escrevi até então -, tudo não
passa de uma questão pessoal, pois a música reverbera no interior de cada um
das mais infinitas maneiras. Escuta e vede o que diz teu espírito.