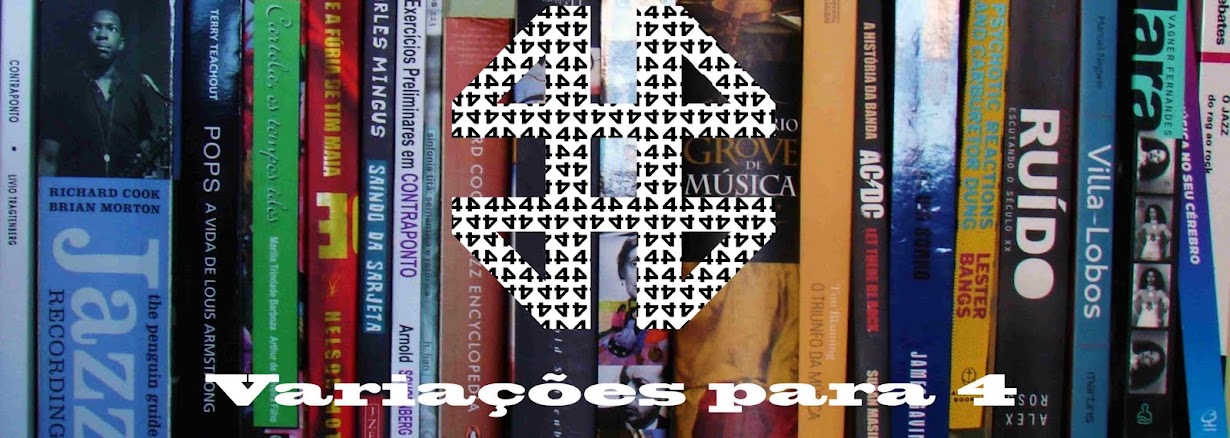Na edição de abril da coluna “Variações
em 5/4”, os nossos editores comentam “Get Up”, o mais novo disco de Ben Harper.
- Fernando Lucchesi:
Desde a grata surpresa que foi “The Will to live” de 1997 que não
acompanhava a carreira de Ben Harper. A não ser por sucessos radiofônicos
pontuais, realmente não sabia o que estava sendo produzido por ele.
Quando surgiu a sugestão de comentar
esse recente disco “Get up!” feito em
parceria com o bluesman Charles Musselwhite não sabia o que esperar. Sequer
sabia quem era Charles Musselwhite. Eis que na audição da primeira música do
disco (Don´t look twice) imaginei
algo como uma homenagem conservadora/convencional ao gênero blues, ou seja,
nada de novo. Só fui perceber que estava diante de um GRANDE disco (não apenas
de blues, mas de música negra americana em geral) ao ouvi-lo em sua totalidade.
Harper e Musselwhite propõem uma viagem através do século XX mostrando o quanto
o blues se modificou e deu origem a novas formas de apreciá-lo sem perder sua
essência.
Estão presentes no disco vertentes
variadas do blues, como o do Mississippi (Don´t
look twice, All that matters now) e o de Chicago (I´m in, I´m out and I´m gone). Mas, essas faixas, apesar da
excelência, são homenagens reverentes ao estilo. O que torna o disco curioso,
pra dizer o mínimo, é a amálgama de estilos criados a partir do blues. Temos o
blues influenciando o gospel (We can´t
end this way), o blues hendrixano (I
don´t belive a word you say - a referência a Hendrix é tão explícita nessa faixa,
que o vocal tenta imitá-lo sem pudores, o blues como pedra fundamental do rock
n´roll (She got kick, com o riff
calcado em Dizzy Miss Lizzy na versão
do Beatles) e ainda o recentíssimo stoner rock (Blood side out, pra confirmar isso basta ouvir algumas músicas do
Queens of the Stone Age do Songs for the Deaf).
As faixas de abertura e de encerramento
não podiam ser mais apropriadas. Ambas exaltam o
blues em sua origem nos
informando que o blues é cíclico e inescapável em qualquer gênero musical
oriundo da cultura negra americana. Certamente um dos grandes discos do ano!
- Giba Carvalho:
Confesso estar longe de ser um
conhecedor dos trabalhos de Ben Harper. Longe disso! No entanto, ao ouvir Get Up!, algo chamou minha atenção. O
disco é uma viagem sonora por tudo de melhor que o blues pode vir a
proporcionar. Lembrando passagens pelo Delta-Blues até sonoridades parecidas
com as que Hendrix tirava em seus blues. Algo de muita relevância são os
momentos violão – gaita. Memórias de John Lee Hooker são trazidas à tona na
minha mente, com seu violão e a marcação de passos feita pelo pé direito. E
nada deste trabalho teria o brilho que tem, sem a participação de Charles
Musselwhite. A gaita do mestre sempre pontual nos arranjos nos remete a algo de
semelhante ao que Little Walter fazia em suas composições.
O trabalho é totalmente diferente do “folk-rock-surfista” que consagrou Harper
no meio musical. É um disco totalmente atemporal e isto é simplesmente
maravilhoso nos dias atuais. É uma viagem histórica a toda base do rock n´roll. De fato, uma das melhores
surpresas do ano até o momento.
- Dom
Angelo:
Entre os artistas do mainstream da
música norte-americana, talvez Ben Harper seja um dos poucos que ainda bebem na
fonte da cultura afro-descendente. Constando 14 álbuns em sua discografia
oficial¹,
o músico sempre manteve boa qualidade em seus trabalhos que flertam com os
estilos folk, blues, reggae, rock e pop.
Este novo trabalho em parceria com o
bluesman Charlie Musselwhite (que fez fama a partir dos finais da década de
1960) acrescenta pontos positivos em sua carreira. Fortes traços do blues de
raíz (originados pela influência das work song, shoutings, spirituals e da
música gospel) tornam-se presentes em quase todas as 10 faixas deste álbum.
Excelentes timbres de guitarra (elétricas e acústicas) juntamente com fraseados
poderosos na harmónica do Musselwhite agregam neste disco a força e o requinte
necessário para angariar prêmios ao longo do ano.
Recomendo a audição do mesmo em viagens
de trem.
- Bruno Vitorino:
Ben Harper é um paradoxo. Ele é um artista que se consagrou
no mainstream da música pop, assumindo,
contudo, uma postura, digamos, anti-pop. Desde “The Three of Us”, primeira faixa de seu primeiro disco, o
interessantíssimo Welcome to the Cruel
Word, o californiano evidencia seu conhecimento vasto da música de raiz
negra estadunidense e sua ligação profunda com essa matriz, fugindo da
conveniência mercadológica da “tendência” e não abrindo mão de um milímetro
sequer de suas convicções artísticas. Gosto dessa postura, porque a integridade
é algo em extinção no establishment cultural
de nossos dias.
Utilizando a superestrutura da indústria cultural em seu
favor, Ben Harper aproveita a fama angariada para lançar as luzes dos holofotes
da mídia em nomes que jazem obscuras ao grande público. Ele fez isso no
belíssimo There Will be a Light, o registro
de seu encontro com The Blind Boys of
Alabama focado no gospel e no spiritual
e o faz novamente ao retirar das sombras a lenda branca da harmônica Charlie
Musselwhite no recém-lançado Get Up!.
O blues com suas variações regionais é o núcleo de todo esse
trabalho produzido pelo próprio Ben Harper num projeto que apresenta um abrangente
panorama musicológico-emotivo de um dos pilares formatadores da música popular dos
Estados Unidos. Do início ao fim, o álbum prima pelo esmero instrumental nas bases,
nos solos - notadamente de steel guitar
e gaita – e na interpretação vocal das letras que vão da súplica gospel de We can’t and This Way à rebeldia fora da
lei de Get Up!.
Diria que é um disco à moda antiga não só pela abordagem
musical em si, mas por se apresentar ao ouvinte como um todo coeso e
interligado que requer um olhar atento à beleza das formas e à sutileza dos
pormenores. Um disco para ouvir e reouvir. Altamente recomendado!
- André Maranhão:
A
parceria entre Ben Harper e Charlie Musselwhite veio na medida certa para quem
admira o cruzamento do Blues acústico com o elétrico. A junção do violão com a
gaita – considerada uma das formas mais antigas entre os bluesmen da América do
Norte – foi habilmente explorada no álbum Get Up!, a ponto da primeira faixa (Don’t Look Twice) empolgar logo de cara
com este recurso. Daí em diante, o disco se mostra como um fértil revezamento
entre as distorções dos drives, dobros e slides com madeiras e metais. Na
sequência, I'm In I'm Out And I'm Gone,
reporta àquelas trilhas sonoras de bares hollywoodianos, enquanto We Can't End This Way casa a espinha
dorsal do Blues com os backing vocals dos cânticos gospel. O disco todo é um
trabalho relevante para o Blues, mas além das canções supracitadas, recomendo especialmente
You Found Another Lover e a homônima Get Up!
¹ Segundo site oficial do artista em http://www.benharper.com/music/albums