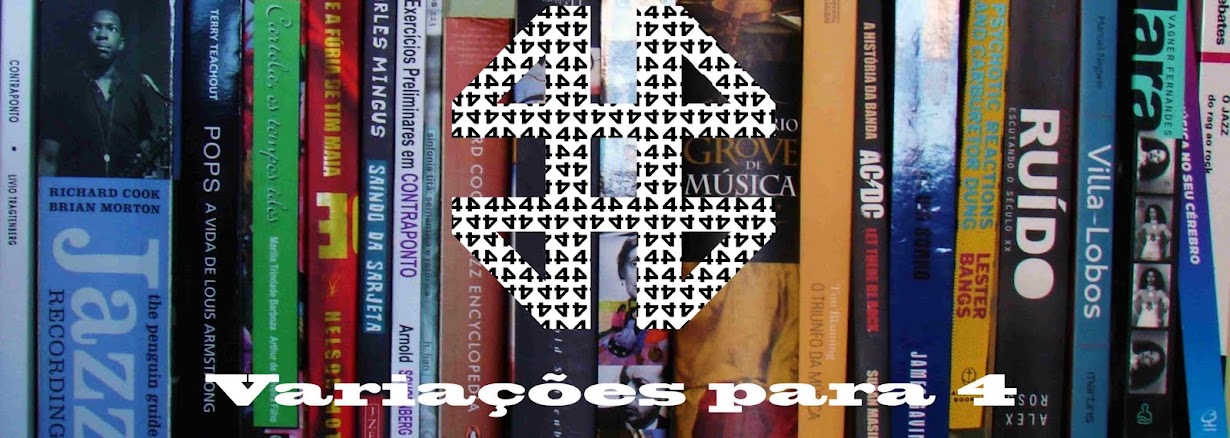Por definição, o labirinto é uma estrutura
arquitetônica feita para desnortear. Seus emaranhados caminhos levam a pessoa
que se aventurou por percorrê-los a investigações minuciosas sobre a
probabilidade em sua jornada na busca por um sentido. Contudo, a exposição
contínua a padrões sobrepostos, assimétricos e sem a menor indicação de lugar
resulta na perda absoluta do senso de direção. O indivíduo é, então, privado da
noção geométrica do Espaço e lançado num limbo onde só existe a reverberação
mecânica do Tempo a se desdobrar em si. Transpondo para a música esse conceito
labiríntico, a banda Meshuggah urde uma complexa trama sonora combinando o peso
do thrash metal com o cerebral
encadeamento de angulosas séries rítmicas e letras de forte crítica aos
mecanismos de controle e discursos de poder do mundo pós-moderno que impõem
rédeas ao homem contemporâneo, privando-o da pluralidade do Eu. O resultado é
uma música lancinante, mas de uma audácia estética singular.
Formado em Umeå, Suécia, em 1987, o Meshuggah
ganhou notoriedade na cena metaleira internacional com seu segundo disco:
“Destroy, Erase, Improve” (1995). Impregnado de uma agressividade corrosiva, o
disco registra o trabalho do quinteto com ciclos rítmicos irregulares, ostinatos acentuando a região grave
(eles tocam guitarras de 8 cordas), padrões polimétricos intrincados que, executados
com uma precisão técnica virtuosística, vão envolvendo o ouvinte a cada tema com
o asfixiante abraço da não-referência. À primeira audição do disco, tem-se a
sensação de ser subitamente jogado num mundo desconhecido, hostil e de ar
rarefeito. Não tem alisado, é porrada sem concessões! Na sequência, veio o
excelente álbum “Chaosphere” (1998) que aprofundou as concepções estéticas
abertas por seu antecessor e consolidou a banda como uma das mais interessantes
do cenário heavy metal da atualidade,
e “ObZen” (2008), a obra-prima do grupo, levou a criptografia rítmica ao ápice
do rebuscamento. “Amplis, amplius! Sempre mais longe”.
O mais interessante de tudo isso é que o Meshuggah sempre
gerou controvérsias dentro do universo metal. Ao subverter a trilha comum das
guitarras velozes, dos compassos em 4/4 e das melodias cantaroláveis
estabelecida por grupos como Iron Maiden, Metallica e Megadeth, a banda criou
um universo perturbador e inteiramente novo que não soa palatável aos ouvidos
mais bitolados. Justamente por renegar a cartilha da tradição, o quinteto sueco
sempre enfrentou muita resistência dos puristas do gênero que viam em sua
música uma mecanização inumana, robótica. No entanto, o que os detratores
parecem não enxergar é que sua produção advém de muito estudo, de exaustiva reflexão
e – o mais importante – da busca por novos direcionamentos expressivos, mais
adequados à liquidez da realidade que hoje se apresenta. É impossível não
perceber na obra do grupo reminiscências de Igor Stravinsky, que inverteu a
lógica clássica da estruturação musical ao pôr o ritmo, e não a melodia, no
cerne do desenvolvimento composicional, bem como da vanguarda jazzística em
suas experimentações com o pulso variável. Ao insuflar essas abordagens no metal,
o Meshuggah revolucionou o gênero. E, no último sábado (16/11), eu pude
testemunhar ao vivo toda essa grandiosidade.
Após de anos de espera, a banda sueca finalmente
aterrissou no Brasil em sua primeira turnê latino-americana que passou pelo
México, enveredou pelo Chile e Argentina até, enfim, chegar a São Paulo. O foco
das apresentações era o seu último disco, “Koloss” (2012), que pode ser considerado
o registro mais reflexivo, digamos assim, do Meshuggah. No lugar da
agressividade vocal exacerbada e da bateria a enfatizar todas as arestas dos
padrões desenhados pelas cordas, surgem uma fúria contida e ciclos polimétricos
maiores e contemplativos que, apesar de bastante assimétricos, não chegam a
apagar a noção de tempo, apontando os vetores mais para o chão do que ao éter. Ficou
mais fácil bater cabeça.
A apresentação aconteceu na casa de show Carioca Club,
um espaço conhecido na cidade por abrigar eventos do chamado de “pagode
romântico”, que nada mais é senão um eufemismo para o chorume produzido no
processo de decomposição mercadológica do samba. Porém, contrariando a lógica,
o local escolhido não poderia ser mais adequado: mediano, refrigerado, limpo,
com um excelente serviço e um primoroso equipamento de som e iluminação. Organização
impecável! Imediatamente lembrei-me das agruras que enfrentei num passado não
tão distante nos “sábados de rock pesado” do Abril pro Rock. Senti um calafrio
e um imediato alívio ao constatar que era apenas um trauma mau curado de minha
adolescência. Nesse ambiente acolhedor, eu conseguiria voltar toda a minha
atenção para o palco.
Uma pequena figura em tercinas, que recebia aqui e
acolá chapiscos de acentuação rítmica da bateria, ecoava. Sob ela, o bombo fincava
um padrão quaternário que acrescentava textura ao esquema, preparando o terreno
para mais a frente acomodar a monumental edificação polirrítmica que se modificava
internamente com o seu desenvolvimento, intercambiando entre si suas camadas
feito engrenagens: “Swarm” abria o concerto. Em seguida, o Meshuggah emendou
com a alucinante “Combustion” e seu motivo quaternário picotado apresentado
pela guitarra, transpassado pela contagem enviesada da bateria que descambava,
após uma seção de hard core moderado,
num caleidoscópio rítmico de binários, ternários e suas combinações.
Eu estava pasmo! Era impressionante ver os cabras em
ação, tão à vontade com essas estruturas extremamente complexas. A guitarra
base de Mårten Hagström erguendo e mantendo os alicerces temáticos; a
habilidade de Frederik Thordendal em improvisar tranquilamente nas situações
rítmicas mais adversas e ainda acrescentar-lhes tensão e adornos melódicos; as inabaláveis
linhas do baixo de Dick Lövgren; a segurança e a firmeza no canto gutural de Jens
Kidman e, principalmente, a presença sobrenatural da bateria de Tomas Haake que
tocava simultaneamente padrões independentes no bombo, caixa e pratos: tudo
estava lá, acontecendo diante de meus olhos! A apresentação seguiu, e vieram
outras pedradas não menos atordoantes como “The Hurt That Finds You First”, “Demiurge”,
“Bleed”, “Dancers to a Discordant System”, “I Am Colossus”, “Do Not Look Down”
e mais algumas outras músicas dos dois últimos trabalhos da banda. Ao final,
atendendo ao pedido do público, os suecos fecharam a conta com a devastadora “Future
Breed Machine” purificando a alma dos headbangers
na roda de pogo, num momento de pura catarse digna de um ritual pagão de uma
tribo bárbara.
Chovia. A música que acabara de ouvir reverberava
em minha cabeça. Seus ciclos chocavam-se, fundiam-se, enraizavam-se em minha
memória. Fitando o infinito pela janela do táxi, eu refletia sobre o cada vez
mais raro fenômeno da criação artística. Pensava em como a repetição de
fórmulas se mostra hoje tão lucrativa para o establishment da indústria cultural no seu sórdido negócio de
vender o conformismo estético para uma massa amorfa, passiva, preocupada
estritamente com o divertimento instantâneo e banal, reduzindo a arte a mero
cosmético. Mas a experiência pelo qual eu acabava de passar me fez crer que há
ainda os que investem contra essa lógica, atuando no subterrâneo do mercado onde
habitam resquícios dos velhos ideais da construção artística: o caráter
reflexivo da experiência estética, a integridade do artista ante as estruturas
formais de comércio da arte, o domínio técnico dos meios de expressão simbólica,
a procura pela expansão da linguagem. Nesse sentido, o Meshuggah atua como um
desfibrilador que tenta reanimar um corpo em estado letárgico. Depois de pensar
nisso tudo, só me restou dizer: louvados sejam os que ousam!