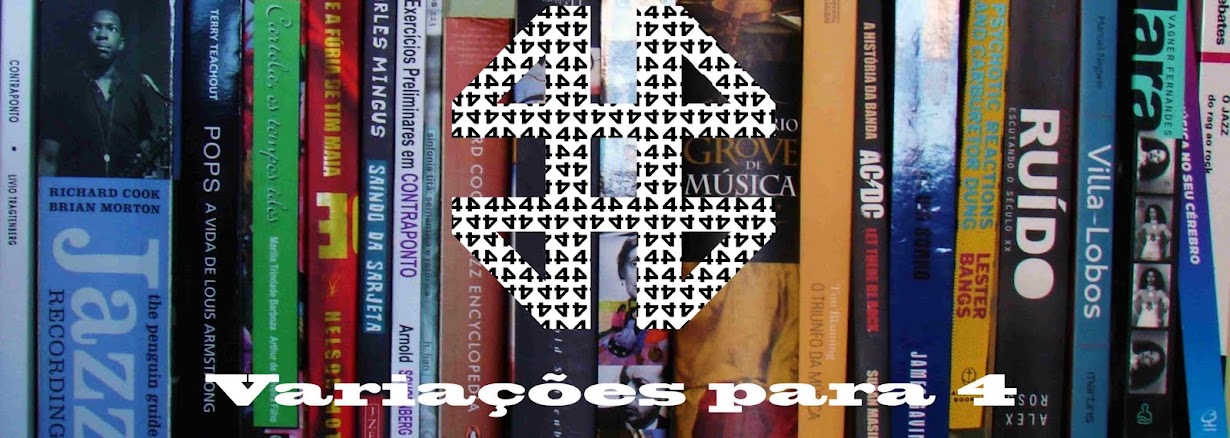Não
faz muito tempo que Walter Palmer, um dentista dos Estados Unidos, resolveu
caçar no Zimbábue e matar o leão Cecil, um dos mais carismáticos símbolos
daquele país africano. A repercussão do fato foi rápida, pois em um mundo
global, onde se joga o jogo das identidades (como diria Stuart Hall) Palmer
amargou em poucos instantes, fortes mudanças sobre a sua reputação, desdobrada
pelas opiniões públicas, imprensa e redes sociais. Se antes ele era simplesmente
um profissional norte-americano de uma pequena cidade em Minneapolis, cujo
ofício era o de cuidar das pessoas – em poucas horas, Palmer passou a ser
considerado como uma criatura sem coração, compaixão e um mau caráter – coisa
ainda mais agravada se pensarmos que o felídeo Cecil ainda agonizou por 40
horas antes de ser completamente abatido.
Ora,
também não faz muito tempo que a Editora Panini publicou Selvagem Wolverine, uma série espetacular da Marvel. A primeira
saga, intitulada Venha Conquistar as
Feras, teve o roteiro assinado por Phil Jimenez e Scott Lope. Ela apresenta
um Wolverine frontalmente crítico às matanças de elefantes e rinocerontes na
África, além de opositor a todo um comércio clandestino de marfim. É claro que parte
dessa militância já se fazia bem presente no filme Wolverine Imortal (lançado em 2013 no Brasil), quando o velho
Logan, vivido por Hugh Jackman demonstrava toda a sua solidariedade a favor de um
urso brutalmente perseguido nas montanhas do Canadá por caras armados com arcos
e flechas envenenadas. A diferença é que em Selvagem
Wolverine, um frisson curioso parece tomar conta da história, quando o tráfico
de marfim se cruza com algo aparentemente improvável: a prostituição infantil
do sudeste asiático. Numa encruzilhada ética e em um mundo marcado por seus
ricochetes (usando aqui um termo de George Yudice) e turbulências, Logan se
reparte entre os destinos das garotas da Ásia, os animais da África e o seu
passado manchado de sangue, guerras e, inclusive, caçadas. A consequência disso
se faz em uma trama atualíssima, sobretudo quando nos percebemos como parte de
um mundo global (ou até glocal),
cujas posições e práticas vivenciadas em pequenos espaços de ação podem
interferir nas condições de vida de atores humanos e não-humanos, espalhados em
posições tão desiguais.
Já
a segunda parte de Selvagem Wolverine
se chama Ira, e é esplendidamente
contada e historicizada por Richard Isanove – um artista francês que estudou
animação em Paris e na Califórnia. Ira
se passa na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá ao longo da Grande
Depressão, sentida pela crise de 1929 em Wall Street. À época, Logan (que fazia
bicos com transporte clandestino de bebidas alcoólicas em plena Lei Seca) se vê
com a desafiadora tarefa de proteger crianças de criminosos sanguinários e
calculistas. Embora ainda desprovido do adamantium enxertado em seus ossos pelo
programa Arma X, Logan já dispunha de
seu fator regenerativo e dos instintos de carcaju, que lhe serão exigidos ao
longo de seus embates contra figuras temíveis e claramente impiedosas em Ira.
Não
diminuindo a relevância e a atualidade temática de Venha Conquistar as Feras, Ira
é seguramente a melhor parte de Selvagem
Wolverine, pois além de ilustrações mais ricas, está repleta de exercícios narrativos
que incluem parte da história dos imigrantes dos Estados Unidos, além de diálogos
que não se deixam cair na monotonia ou no lugar comum das séries de heróis das
HQs incumbidos pela missão de derrotar alienígenas, vilões fantasiados, ou
monstros redundantes. Ira é novela
gráfica que se aproxima de um traço noir,
perfeitamente sugestiva nos adversários de Logan, dessa vez, engravatados,
armados com facas, lâminas de barbear, garrotes, metralhadoras, e mancomunados
com as polícias locais além da máfia de Chicago. Num período em que Al Capone
se digladiava com Eliott Nes, uma história como Ira deixa as mortes correrem soltas, que se acoplam com total
sentido e se tornam ainda mais icônicas quando transpostas para lugares como
motéis, orfanatos e montanhas do Colorado. Selvagem Wolverine é certamente um
dos lançamentos mais profícuos da Marvel em 2015. A sua leitura vale muito. Se Will
Hunting (um personagem vivido por Matt Damon em Gênio Indomável) disse que os
grandes livros são aqueles que nos deixam de cabelo em pé, com certeza Selvagem Wolverine é forte
candidato para levantar nossa cabeleira!